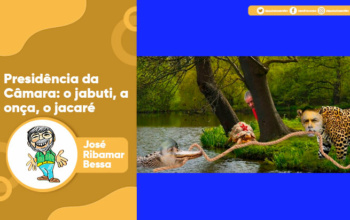Nesses tempos de Coronavirus – uma “gripezinha” segundo um “especialista” insano – dois pesquisadores que estudaram as línguas da Amazônia se despediram da vida: no 1º de abril, o australiano Gerald Taylor (1933-2020), que residia na França e, no dia 9, o suíço Jorge Gasché (1940-2020), que se nacionalizou peruano. Não se trata da “morte natural” de dois “velhinhos”, mas do sepultamento de dois arquivos vivos, cujo conteúdo vale a pena abrir.

O homem que sabia javanês
Gerald Taylor, que falava 17 idiomas – um deles era o javanês – se dedicou ao estudo das línguas com a mesma paixão devotada à culinária. Eu o conheci no dia em que preparou no seu cafofo da rua Mouffetard, em Paris, um prato que aprendeu na Indonésia: frutos do mar e arroz com cravo-da-índia, noz-moscada, gengibre, coentro, acompanhado do sambal – molho apimentado de pasta de camarão e limão. Convidou um amigo comum, o linguista Alfredo Torero, que me levou a tiracolo. Foi o suficiente para iniciarmos uma amizade duradoura e para que eu conhecesse sua trajetória.
Com pouco mais de 20 anos, Gerald saltitou pela ilha de Java, Itália e França, de onde embarcou em navio cargueiro para o México. Andarilho, desceu pela Venezuela, Colômbia e Equador e, em Otavalos, ouviu pela primeira vez a língua quéchua, diferente das variedades que escutou em seguida no Peru e na Bolívia. Saboreou, também pela primeira vez, a culinária andina: cazuela de llama, cuy pururucado, rocoto relleno, locro com milho tenro, quinoa e trezentos tipos de batata.
 Apaixonou-se pelas receitas registradas em quéchua. Entrou fundo no estudo da língua. Traduziu ao francês e ao castelhano o Manuscrito Quechua de Huarochiri, obra clássica sobre mitologia andina e “monumento da literatura mundial”. Uma farta produção de livros e artigos o tornaram o maior especialista da França nesse campo. Por isso, o mundo andino, que muito deve a ele, pranteou sua partida.
Apaixonou-se pelas receitas registradas em quéchua. Entrou fundo no estudo da língua. Traduziu ao francês e ao castelhano o Manuscrito Quechua de Huarochiri, obra clássica sobre mitologia andina e “monumento da literatura mundial”. Uma farta produção de livros e artigos o tornaram o maior especialista da França nesse campo. Por isso, o mundo andino, que muito deve a ele, pranteou sua partida.
Patê no tucupi
Nós, do mundo amazônico, devemos também reverenciá-lo. Embora vinculado ao Instituto Francês de Estudos Andinos, suas pesquisas desceram dos Andes à floresta, ainda em Paris. Convidei-o a almoçar. Minha mãe, de passagem pela França, inventou uma entrada: o paté de foie gras ensopado no tucupi trazido por ela de Manaus. Taylor se deliciou com esse “patê no tucupi” – uma heresia para os franceses. Na ocasião, comentei com ele e com sua colega Consuelo Alfaro sobre documentação que estava encontrando em arquivos europeus relativa à língua geral da Amazônia. Inebriado pelo tucupi, Taylor me sugeriu escrever artigo para a revista Ameríndia da Universidade Paris VIII, de cujo comitê editorial ele fazia parte.
O artigo Da “Fala Boa” ao português na Amazônia Brasileira, publicado em 1983, com chancela da Universidade de Paris-Sorbonne e do CNRS – Centro Nacional de Pesquisa Científica, aguçou o interesse dele pelas línguas amazônicas. Não sei o que pesou mais: se o Nheengatu ou o tucupi, o certo é que Taylor, guiado pelo antropólogo Renato Athias, realizou três ou quatro viagens ao Rio Negro nos anos 1980. Numa delas, como não havia o controle rígido de hoje, levou um vidro de tucupi com pimenta murupi no voo da Air France para Paris. A rolha explodiu com ruído de bomba, parecia champagne, e espalhou o líquido amarelo, aromatizando o compartimento da bagagem de mão. Ele se fez de leso.
Se o tucupi se perdeu, a língua não. Taylor levava para Paris documentos, gravações, textos transcritos, léxicos, dados sintáticos, recolhidos em sua primeira viagem ao campo de apenas três semanas, quando registrou relatos narrados em Baniwa e em Nheengatu pelos indígenas Domingo de Souza Paiva, Viriato Plácido, Humbelino Plácido e Gersem Laureano. Voltou um ano depois, convidado pelo padre salesiano Afonso Casanovas. Em uma terceira viagem ao rio Negro recolheu versão em tukano das mesmas histórias, contadas por Agostino Freitas da missão salesiana de Yauareté e se deliciou com a quinhapira, o beiju, o tucupi e a farina do Uarini.
Koronavirus iodza
 Erudito, ele construiu uma ponte entre narrativas andinas e amazônicas. Identificou ainda em alguns mitos que circulam em línguas indígenas, elementos dos contos de Perrault, Andersen, Grimm. As histórias de João e Maria, de Aladim, do Pequeno Polegar e tantas outras ganham cor e personagens locais: Curupira, Matintaperera, Mãe-d’água, Cobra Grande. Os indígenas fizeram também, na literatura, o seu “patê no tucupi”:
Erudito, ele construiu uma ponte entre narrativas andinas e amazônicas. Identificou ainda em alguns mitos que circulam em línguas indígenas, elementos dos contos de Perrault, Andersen, Grimm. As histórias de João e Maria, de Aladim, do Pequeno Polegar e tantas outras ganham cor e personagens locais: Curupira, Matintaperera, Mãe-d’água, Cobra Grande. Os indígenas fizeram também, na literatura, o seu “patê no tucupi”:
– “Esse aspecto híbrido dos contos populares que dialogam com narrativas tradicionais não devem nos surpreender. Foram levados ao Rio Negro por missionários italianos e alemães, por militares e por nordestinos seringueiros” – escreve Taylor depois de passar um pente fino nos textos, entre outros, de Couto de Magalhães, Barboza Rodrigues, Silvio Romero, Câmara Cascudo.
O estudo linguístico das narrativas lhe permitiu concluir que “o baniwa do Içana (arawak) e o Nheengatu (tupi), apesar de pertencerem a duas famílias diferentes, possuem várias estruturas sintáticas em comum”.
 Esse Taylor era mesmo danado! Apoiado no seu trabalho de campo, escreveu “Introdução à Língua Baniwa do Içana” (Unicamp, Campinas, 1991), no qual propõe um alfabeto para transcrever a língua, baseado na análise fonológica. Elaborou o “Breve Léxico da língua Baniwa do Içana” (Uneb, Salvador, 1999) e transcreveu contos em várias línguas do Rio Negro publicados no blog, inconcluso, que Renato Athias organizou com ele.
Esse Taylor era mesmo danado! Apoiado no seu trabalho de campo, escreveu “Introdução à Língua Baniwa do Içana” (Unicamp, Campinas, 1991), no qual propõe um alfabeto para transcrever a língua, baseado na análise fonológica. Elaborou o “Breve Léxico da língua Baniwa do Içana” (Uneb, Salvador, 1999) e transcreveu contos em várias línguas do Rio Negro publicados no blog, inconcluso, que Renato Athias organizou com ele.
(https://baniwa.blogspot.com/)
Talvez suas pesquisas tenham contribuído de alguma forma para a elaboração, agora em março de 2020, do Informativo Idaanataakawa Koronavirus iodza hia komonidadinai organizado por Juliana Radler do Instituto Sociambiental e a autoria de vários indígenas da FOIRN para orientar na prevenção e no enfrentamento ao Covid-19. Se for assim, valeu a vida de Gerald Taylor, que dessa forma retribuiu a quinhapira e a farinha que degustou no Rio Negro.
Retorno à maloca
O espaço desta coluna no Diário do Amazonas se transforma em obituário. Já havia enviado o comentário sobre Gerald Taylor, quando chegou a notícia da morte de Jürg Ulrich Gasche, o Jorge, que na década de 70 se embrenhou na floresta peruana e de lá nunca mais saiu, pesquisando línguas e culturas amazônicas. Formado em antropologia e linguística pela Sorbonne e pela Universidade de Basilea, falava alemão, francês, espanhol, polonês e russo e se especializou nas línguas huitoto, secoya, bora e ocaina, nas quais era fluente. No dia em que recebeu seu título de nacionalidade peruana, escreveu num mural, em língua huitoto: “Amo a terra peruana e o seu povo”.

O “seu povo” era formado fundamentalmente pelos grupos nativos. Jorge viveu mais de 40 anos em Iquitos e lá dirigiu o Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), onde coordenou o projeto “Biosociedade”. Fundou a Associação de Apoio às Comunidades Nativas da Amazônia (ANACONDA). Assessorou o movimento indígena, pesquisou sobre a “História do movimento organizativo do povo Ashaninca” e “História das organizações shipibo-conibo”. No LXI Congresso da SBPC em Tabatinga apresentou o trabalho “Porque fracassam os projetos de desenvolvimento da Amazônia”, quando propôs a aplicação dos princípios da pedagogia intercultural aos projetos de desenvolvimento.
Teve papel importante na formação de professores bilíngues e com eles discutiu a “História, função e conduta dos intelectuais indígenas no entroncamento de duas sociedades: os povos indígenas e a sociedade envolvente na Amazônia peruana”, tema de sua comunicação em congresso internacional na Suíça, em 2001. Organizou simpósio com o título sugestivo “O intelectual orgânico nas relações interculturais. Voltar a ler Gramsci?”. Outro título provocativo foi o de sua conferência, em 2010, na Universidade Nacional da Colômbia: “A ignorância reina, a estupidez domina e os caras-de-pau se aproveitam. A engorda neoliberal e a dieta da floresta”.
Autor de livros, entre os quais “Sociedad Bosquesina”, definida por ele como “a sociedade amazônica rural que abarca tanto os povos indígenas como as comunidades mestiças, ribeirinhas, caboclas”. Lá desenvolve sua teoria social sobre “o retorno à maloca”. Criticou o ex-presidente Alan Garcia, que propôs a mineração em território indígena. Publicou artigos em revistas especializadas da Europa e Estados Unidos. No Brasil, a Editora da Universidade Federal de Roraima publicou artigo em que é coautor sobre “Questão ambiental, desenvolvimento sustentável, desigualdades sociais e proteção social na Pan-Amazônia”.
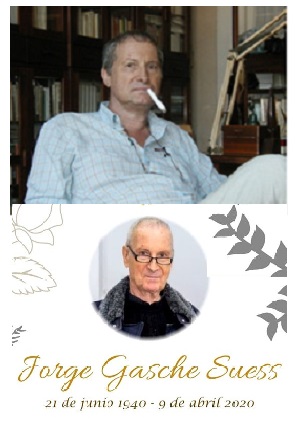 No trabalho de campo para sua tese sobre ritual e política entre os Uitoto-muri, o antropólogo Edmundo Pereira, guarda lembranças da generosidade de Gasché que abriu sua biblioteca em Iquitos e com ele trocou figurinhas. Tornaram-se amigos. Lembra algumas histórias. No último encontro que tiveram, no Museu Nacional, no Rio, Jorge chegou com sua inseparável valise de couro, que guardava uma lata de nescau cheia de mambe conhecido no Rio Negro como ipadu. Mambeador contumaz, ofereceu-lhe mapacho – o cigarrão de tabaco amazônico. Curioso, Edmundo indagou como ele conseguia passar na alfândega com aquela erva:
No trabalho de campo para sua tese sobre ritual e política entre os Uitoto-muri, o antropólogo Edmundo Pereira, guarda lembranças da generosidade de Gasché que abriu sua biblioteca em Iquitos e com ele trocou figurinhas. Tornaram-se amigos. Lembra algumas histórias. No último encontro que tiveram, no Museu Nacional, no Rio, Jorge chegou com sua inseparável valise de couro, que guardava uma lata de nescau cheia de mambe conhecido no Rio Negro como ipadu. Mambeador contumaz, ofereceu-lhe mapacho – o cigarrão de tabaco amazônico. Curioso, Edmundo indagou como ele conseguia passar na alfândega com aquela erva:
– Eu digo que é um fitoterápico, bom para artrite de velho como eu.
Só nos restar evocar aqui as palavras de Edmundo ao se inteirar da morte de Jorge:
– Que Buinaima – o Criador dos Uitoto – o guarde!
Ver blog – http://jgasche.weebly.com/

Foto da pagina do FB de Johanna Gasc