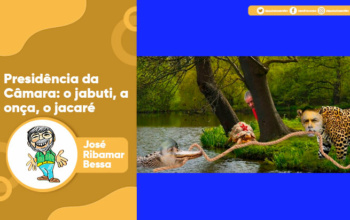Eu quero ser enterrado, como meus antepassados, no ventre escuro e fresco, de uma vasilha de barro».
(Gonzalo Benitez, poeta equatoriano, 1942)
Durante 1.200 anos, moradores da margem esquerda do rio Negro enterravam seus mortos dentro de igaçabas – um pote de barro cheiroso, boca larga e bojo grande. O cemitério era um templo a céu aberto, onde os índios realizavam cerimônias religiosas, ritos e pajelanças, tocando flautas, dançando, cantando e rezando. Ficava no local da atual praça D. Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade, sede do Museu da Cidade, onde agora será criado o Memorial Necrópole de Manaus, segundo anunciou o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural (Concultura), Tenório Telles, apoiado pela Fundação Municipal de Cultura (Manauscult) presidida por Alonso Oliveira, que atenderam reivindicação das organizações indígenas e de pesquisadores de universidades.
Naquele chão que começava no terreno alto à beira do rio e se prolongava até o igarapé de São Vicente, os portugueses construíram, em 1669, o Forte de São José do Rio Negro. O barro por eles usado foi retirado, ironicamente, dos potes destruídos e das sepulturas violadas. Profanaram assim a morada dos mortos, perturbando seu descanso eterno e tripudiando sobre os restos mortais. Camadas de entulho soterraram outras igaçabas nas profundezas do subsolo, numa tentativa de apagar definitivamente da memória dos índios, dos mestiços e de seus descendentes qualquer lembrança da existência daquele lugar reverenciado como sagrado.
 As urnas funerárias, porém, sempre reaparecem. Uma das vezes foi em 1848, quando Manaus deixou de ser uma vila para se tornar Cidade da Barra do Rio Negro. O viajante italiano Gaetano Osculati procurou então o Forte, mas só encontrou ruínas e destroços em um terreno abandonado denominado de Largo do Quartel, onde urnas afloravam teimosamente por buracos abertos pelas chuvas, em um testemunho silencioso de que aquele espaço, outrora dedicado aos mortos, continuava ainda vivo. Lá, ele viu um pelotão de soldados em treinamento, que marchavam, só de calção, e quebravam com os pés descalços as bordas de igaçabas vermelhas e alaranjadas que assomavam na superfície do solo.
As urnas funerárias, porém, sempre reaparecem. Uma das vezes foi em 1848, quando Manaus deixou de ser uma vila para se tornar Cidade da Barra do Rio Negro. O viajante italiano Gaetano Osculati procurou então o Forte, mas só encontrou ruínas e destroços em um terreno abandonado denominado de Largo do Quartel, onde urnas afloravam teimosamente por buracos abertos pelas chuvas, em um testemunho silencioso de que aquele espaço, outrora dedicado aos mortos, continuava ainda vivo. Lá, ele viu um pelotão de soldados em treinamento, que marchavam, só de calção, e quebravam com os pés descalços as bordas de igaçabas vermelhas e alaranjadas que assomavam na superfície do solo.
Palimpsesto: os mortos falam
Nas várias reformas feitas na praça, a cada escavação, urnas funerárias brotam do chão como cogumelos. Durante a última remodelação, em maio de 2003, o material encontrado foi levado para o laboratório do Museu Amazônico, da UFAM, para passar por um processo de conservação e restauro. O arqueólogo Eduardo Neves, da USP, elaborou então um projeto de intervenção arqueológica, com o objetivo de musealização da praça, que revela mais de um milênio de história. Sua proposta inclui a incorporação de réplicas das urnas funerárias na paisagem humana, “aumentando em muitos séculos sua profundidade histórica”.
Naquela ocasião, no dia 29 de março, convidado pelo procurador da República, Eduardo Barragan, realizei visita técnica ao local em companhia do historiador Luiz Balkar, então diretor do Museu Amazônico e da Superintendente Regional do IPHAN, a saudosa Bernadete Andrade. Elaborei relatório técnico sobre a área denominada de “entorno da Prefeitura”, com uma contextualização histórica da praça D. Pedro II, que equiparei a um palimpsesto – aquele manuscrito antigo apagado artificialmente para ser reutilizado, mas que conserva marcas ou vestígios da escrita anterior e armazena numa única base física vários documentos.

O relatório chama a atenção para três tipos de escrita da praça reconhecida pelo IPHAN como sítio arqueológico, integrante do Patrimônio Cultural: 1) O registro do espaço sagrado e cerimonial dos índios; 2) as marcas do poder militar colonial português e 3) o testemunho do poder político republicano. A reivindicação da memória do espaço sagrado foi feita esta semana em reunião com Tenório Telles por dois representantes dos Tukano: João Paulo Barreto, doutor em antropologia e Ivan Tukano, da Associação Indígena Yepemahafa dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro.
“Uma sociedade que não valoriza sua memória cai no esquecimento e na ignorância” – declarou ao repórter Gabriel Abreu da Revista Cenarium, o presidente da Concultura, que pretende inaugurar uma semente do Memorial já no próximo 16 de abril, colocando no local placa em três línguas: nheengatu, português e inglês.
Pirarucus encasacados
Uma cidade, cujo responsável pela política cultural é um intelectual respeitado do porte de Tenório Telles ou do seu antecessor Márcio de Souza, demonstra que ainda está viva. Mas é aqui que entram os pirarucus-de-casaca numa polêmica que ganhou espaço na mídia e nas redes sociais sobre a aplicação em Manaus da Lei Aldir Blanc, criada com objetivo de amparar artistas em situação vulnerável, devido ao estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavirus.
A jornalista Paula Litaiff da Revista Cenarium questionou os critérios de seleção e cobrou transparência no uso das verbas no valor de R$ 20 milhões, sendo R$ 15 mi de origem federal e R$ e 6 mi do munícipio, concedidas em novembro do ano passado. O atual presidente do Concultura, sem querer “causar quaisquer constrangimentos aos profissionais da cultura que, na sua maioria cumpriram suas obrigações”, notificou os agentes culturais” e exigiu a prestação de contas de todos os projetos contemplados, para verificar “a execução, o plano de gastos, os devidos comprovantes de despesa, recibos, notas e outros documentos”.
 A maioria, que nada tinha a esconder, concordou. Afinal, a Lei Aldir Blanc é clara quanto à natureza emergencial e a quem faz jus aos seus benefícios. Mas alguns pirarucus-de-casaca protestaram, alegando que não precisam prestar contas de seus projetos financiados por verba pública, porque a atividade artística não deve ser submetida à burocracia. Levantaram suspeitas como os furadores da fila da vacina ou as aplicadoras da vacina-de-vento. Não discutiram o mérito. Tal qual faz o capitão Jair com a mídia e com as “rachadinhas”, atacaram com virulência a repórter Paula Litaiff e Tenório Telles, que parece ter sido até agora o único gol de placa do prefeito David Almeida. Debocharam. Um deles teve a audácia de postar nas redes sociais como se tratasse de recursos privados:
A maioria, que nada tinha a esconder, concordou. Afinal, a Lei Aldir Blanc é clara quanto à natureza emergencial e a quem faz jus aos seus benefícios. Mas alguns pirarucus-de-casaca protestaram, alegando que não precisam prestar contas de seus projetos financiados por verba pública, porque a atividade artística não deve ser submetida à burocracia. Levantaram suspeitas como os furadores da fila da vacina ou as aplicadoras da vacina-de-vento. Não discutiram o mérito. Tal qual faz o capitão Jair com a mídia e com as “rachadinhas”, atacaram com virulência a repórter Paula Litaiff e Tenório Telles, que parece ter sido até agora o único gol de placa do prefeito David Almeida. Debocharam. Um deles teve a audácia de postar nas redes sociais como se tratasse de recursos privados:
– “Prestar contas: eu hein, me poupe”.
Não, não devem ser poupados. A coluna vai acompanhar a cobrança e a transparência. Voltaremos a abordar o tema em defesa da arte, da cultura, do patrimônio coletivo e da Lei Aldir Blanc contra os quais conspiram esses pirarucus encasacados, que não devem ser confundidos com os artistas que contribuem, com seu trabalho, para a sociedade. Já dizia o velho Ulysses Guimaraes, mencionando provérbio sobre a mulher de César: “Não basta ser honesto, é preciso parecer”. Parecer não no sentido de fingir, mas de exibir os comprovantes do bom uso dos recursos públicos.
P.S. – Links para matérias da Revista Cenarium: 1) https://revistacenarium.com.br/carta-aos-artistas-caso-lei-aldir-blanc-o-jornalismo-no-combate-a-desigualdade/? 2) https://www.youtube.com/watch?v=5hl9C8gglOI 3) https://revistacenarium.com.br/lei-aldir-blanc-em-manaus-filha-de-amazonino-recebeu-r-60-mil-e-r-4-milhoes-a-30-artistas-nao-contemplados-precisam-de-ajuda/