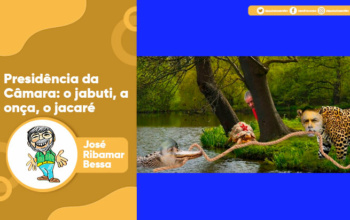“Só existem dois lugares no mundo onde podemos ser felizes: em casa e em Paris”.
Ernest Hemingway. Paris é uma festa. 1964
Desde o período áureo da borracha, Manaus é chamada de Paris de Igarapé. Por extensão, a Universidade Federal do Amazonas é a Sorbonne de Igarapé e este nosso combativo Diário o Le Monde de Igarapé. É assim que no Amazonas identificamos certas instituições, pessoas, fatos. O interlocutor pode considerar isso um deboche ofensivo, se sua referência for um igarapé moribundo de Manaus, como o Mindu, contaminado por lixo e esgoto. Mas será um elogio se pensar no Cunuri, que reflete em suas águas cristalinas as copas das árvores, fornece água potável e dá vida aos peixes e às plantas na região do alto Tiquié, porque os Tuyuka, que cuidam bem dele, são seres humanos, mas felizmente não “são iguais a nós”.
Nos dois casos, porém, independentemente do juízo de valor, a expressão que associa o igarapé a uma instituição europeia, serve para demarcar o reduzido raio de ação da entidade local e para situá-la na periferia. O igarapé – caminho de canoa em Nheengatu – é um canal estreito, um pequeno braço de rio. Mas ele é nanico apenas no cenário dominado pelo caudaloso rio Amazonas. Já no contexto da Europa, assume outra dimensão, como mostrou dona Elisa que me visitou quando eu lá morava e diante da Catedral de Notre-Dame perguntou:
– Meu filho, esse igarapé aí é que é o famoso Sena? Sou mais o Tarumã.
 Era o mesmo rio que Ernest Hemingway contemplara pela primeira vez em 1921. Ele morou com a esposa, o filho e o gato, num conjugado sem água quente nem privada na rua Cardinal Lemoine e depois em outro de dois quartos na rua Descartes. Conviveu com escritores, pintores, jornalistas, cantores, boêmios. Flanou pelos bulevares. Frequentou cafés, bistrôs, bares. Costumava levar caderno, lápis e apontador ao Café Closerie des Lilas, em Montparnasse, onde escrevia durante horas em mesa com tampo de mármore. “Eu era pobre e feliz” anotou em “Paris é uma festa”, editado após seu suicídio nos Estados Unidos em 1961.
Era o mesmo rio que Ernest Hemingway contemplara pela primeira vez em 1921. Ele morou com a esposa, o filho e o gato, num conjugado sem água quente nem privada na rua Cardinal Lemoine e depois em outro de dois quartos na rua Descartes. Conviveu com escritores, pintores, jornalistas, cantores, boêmios. Flanou pelos bulevares. Frequentou cafés, bistrôs, bares. Costumava levar caderno, lápis e apontador ao Café Closerie des Lilas, em Montparnasse, onde escrevia durante horas em mesa com tampo de mármore. “Eu era pobre e feliz” anotou em “Paris é uma festa”, editado após seu suicídio nos Estados Unidos em 1961.
Um dia, um gato
O livro registra que quando chegou na França, tinha 22 anos e lá viveu seis anos com idas e vindas, na década de 1920, nos chamados “anos loucos”, período entre as duas guerras. Passou fome algumas vezes. “Nesse tempo era possível viver muito bem em Paris com pouquíssimo dinheiro desde que, de quando em quando, se suprimisse uma refeição e não se renovasse o guarda roupa”.
Hemingway relata que nem sempre podia pagar os livros alugados numa biblioteca particular na rua de L’Odéon, lidos por ele com voracidade. Comenta criticamente suas leituras. Descreve a convivência regular com grandes nomes da literatura e da arte: James Joyce, Ezra Pound, Picasso. Frequentou a casa de Gertrude Stein e Scott Fitzgerald. No seu livro rola muita fofoca, e das boas, sobre tais personalidades, com confidências ainda sobre sua primeira mulher Hadley, o filho Bumby ainda bebé e o gato.

– Nesse tempo, não havia babás e Bumby mantinha-se feliz na sua caminha de grades altas, acompanhado do nosso gato, que era grande, meigo e se chamava F. Puss. Certas pessoas achavam que era perigoso deixar uma criança com um gato. […] Diziam que os gatos se deitavam em cima dos bebés e que o peso deles os sufocava. F. Puss deitava-se ao lado de Bumby, na cama de grades, espiando a porta com seus grandes olhos amarelos e vigilantes e, quando nós saíamos […] o gato não deixava que ninguém se aproximasse dele. Não precisávamos de nenhuma babá. F. Puss era a babá.
O livro inicia com carta de Papá – esse era seu apelido – a um amigo:
– “Se você teve a sorte de viver em Paris na sua juventude, então onde quer que vá, a lembrança permanecerá em você pelo resto da vida, porque Paris é uma festa móvel”.
Nos “anos rebeldes”, este locutor que vos fala teve a sorte de viver, também seis anos, numa cidade que é um eterno feriado. Primeiro na qualidade de exilado, trabalhando em hotel, restaurante, limpando privada de madame, depois, em melhores condições, como bolsista e correspondente do semanário Opinião. Se efetivamente “a fome é uma boa disciplina e ensina-nos muita coisa”, como escreveu Hemingway, neste caso foi grandiosa a aprendizagem deste vosso Hemingway de Igarapé, que não é filho de Paris, mas do rio Solimões, sobre cujas águas leu, aos 16 anos, “O Velho e o Mar”.
O jovem e o rio
Uma experiência de leitura como essa a gente não esquece. Foi no barco-recreio Lord Kelvin, que transportou cerca de 50 paroquianos do bairro de Aparecida, em Manaus, para a sagração do bispo de Coari, Dom Mário Anglim. Eu estava a bordo. A viagem durou três dias. Meu quase-cunhado, Newton Bocão, me emprestou “O Velho e o Mar”. Bebi de uma só talagada a história do cubano Santiago, pescador panema, que depois de quase três meses de jejum, finalmente pescou um peixe maior que seu barco. Na cena final, ele dorme de bruços. A última frase ficou gravada na memória:

– “O velho sonhava com leões”.
E eu fiquei sonhando em ser um escritor como o autor que acabara de ler, que em 1954 ganhara o Prêmio Nobel de Literatura. Mas de forma mais modesta, me contentava em ser um Hemingway de Igarapé. Ficaria feliz se tivesse leitores espalhados nos arredores do igarapé Bananal, em Coari. Já era suficiente. Ignorava, então, a advertência de Gabriel García Márquez de que “é mais fácil capturar um coelho que um leitor”.
Deslumbrado com Hemingway, tentei visitar sua casa na periferia de Havana, quando estive em Cuba, em 1972, bancado pela instituição francesa onde estudava. Não foi possível porque, se bem me lembro, ela estava sendo restaurada para virar museu. Só consegui mesmo beber uns daiquiris em La Bodeguita del Medio e no Bar Floridita, que conserva um busto de bronze do escritor. Nesta época li “Por quem os sinos dobram” e Adeus às armas” e só anos depois “Paris é uma festa”, que relata os encontros de Papá com James Joyce já quase cego, as visitas à casa de Gertrude Stein que lá vivia casada com sua companheira Alice, e os papos com Scott Fitzgerald, sempre de porre, e com uma esposa extremamente ciumenta.
Esponjas de amor
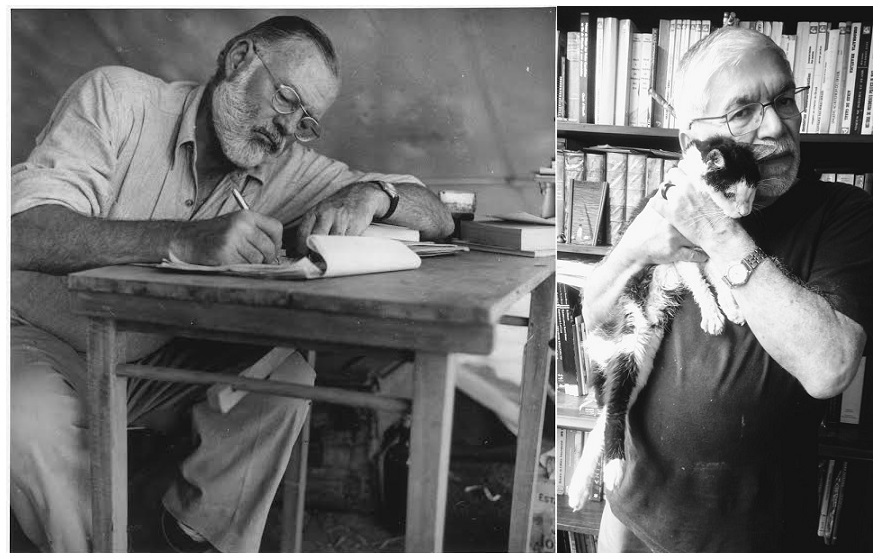 Por que ocupar esse espaço com Hemingway? É que ele adorava gatos e evocava a fofura deles ao tato para defini-los como “esponjas de amor”, sempre capazes de se encharcar de afeto, carícias e muito chamego. Lembrei-me porque tenho um gato encontrado há 20 anos numa lata de lixo. Agora, com idade provecta, está se despedindo da vida. O motorzinho da garganta, fábrica de ronronar felicidade, já parou de funcionar. Trata-se de um gato de igarapé, que nunca foi babá como F. Puss, mas tem o carinho do Babá. Eu queria muito ser o Hemingway de igarapé para homenagear aquele que me acompanhou todos esses anos com olhar amoroso e altivo, cujo nome é uma homenagem a um histórico personagem libertário. Valente e doce León. Faz jus ao nome.
Por que ocupar esse espaço com Hemingway? É que ele adorava gatos e evocava a fofura deles ao tato para defini-los como “esponjas de amor”, sempre capazes de se encharcar de afeto, carícias e muito chamego. Lembrei-me porque tenho um gato encontrado há 20 anos numa lata de lixo. Agora, com idade provecta, está se despedindo da vida. O motorzinho da garganta, fábrica de ronronar felicidade, já parou de funcionar. Trata-se de um gato de igarapé, que nunca foi babá como F. Puss, mas tem o carinho do Babá. Eu queria muito ser o Hemingway de igarapé para homenagear aquele que me acompanhou todos esses anos com olhar amoroso e altivo, cujo nome é uma homenagem a um histórico personagem libertário. Valente e doce León. Faz jus ao nome.
P.S. – Ia comentar aqui mais uma pérola de Bolsonaro nesta quinta (23): “Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós”. A preocupação com León me livrou de mergulhar nas águas fétidas desse Mindu do séc. XXI.