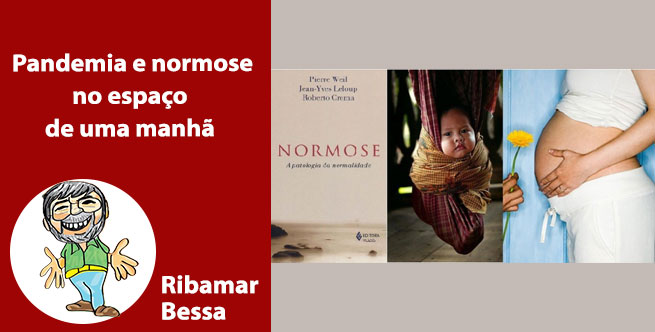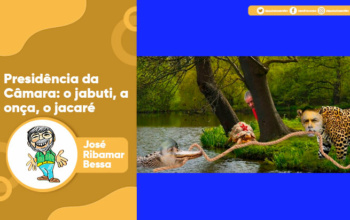A gripezinha duraria, como as rosas de Malherbe, o breve espaço de uma manhã. Essa foi a previsão – vocês lembram? – do deputado Osmar Terra Plana (MDB vixe vixe), cotado para assumir o Ministério da Saúde. Ele não usou linguagem poética, mas o burocratês, para dizer que o resfriadinho ficaria no Brasil por tempo equivalente ao da passagem de ministros pelas pastas da Educação e da Saúde: fugaz e decotellizado. Seria vapt-vupt. Ele anunciou em sua conta no Twitter, no dia 18 de março, do seu lugar de médico, que “o coronavirus (em minúsculo) seria responsável por menos mortes em todo o país do que os óbitos causados pela gripe no Rio Grande do Sul durante o inverno”.
Sua avaliação se baseava no fato de o brasileiro ter adquirido imunidade pelo hábito de nadar em esgoto, conforme assegurava um capitão com experiência própria em tais mergulhos. Tudo furado. Cinquenta dias depois, o Covid-19 (em maiúsculo) já havia matado 40.000 pessoas e crescia de forma alarmante. Não adiantou puxar o saco do capitão, pois o ministro nomeado interinamente foi um general da ativa que, por não entender bulhufas de saúde, convidou Carlos Wizard que também não entende chongas, para recontar os mortos e fraudar as estatísticas. O número diário de mortos deixou de ser apresentados à nação: “Acabou matéria no Jornal Nacional”, celebrou o capitão Bolsonaro.
Houve protesto generalizado das instituições no país e até da Organização Mundial da Saúde. A pressão foi enorme. Wizard foi desnomeado antes de assumir. Considerando que a opinião pública precisa ser informada sobre o que está acontecendo e diante da omissão do Ministério de Saúde que perdeu credibilidade, um consórcio de veículos de imprensa passou a fazer a contagem. Enquanto isso, o Covid-19 continua sua progressão: agora, na primeira semana de agosto, o número de mortos se aproxima aceleradamente dos 100.000, com quase 3 milhões de brasileiros contaminados.
Mortalidade materna
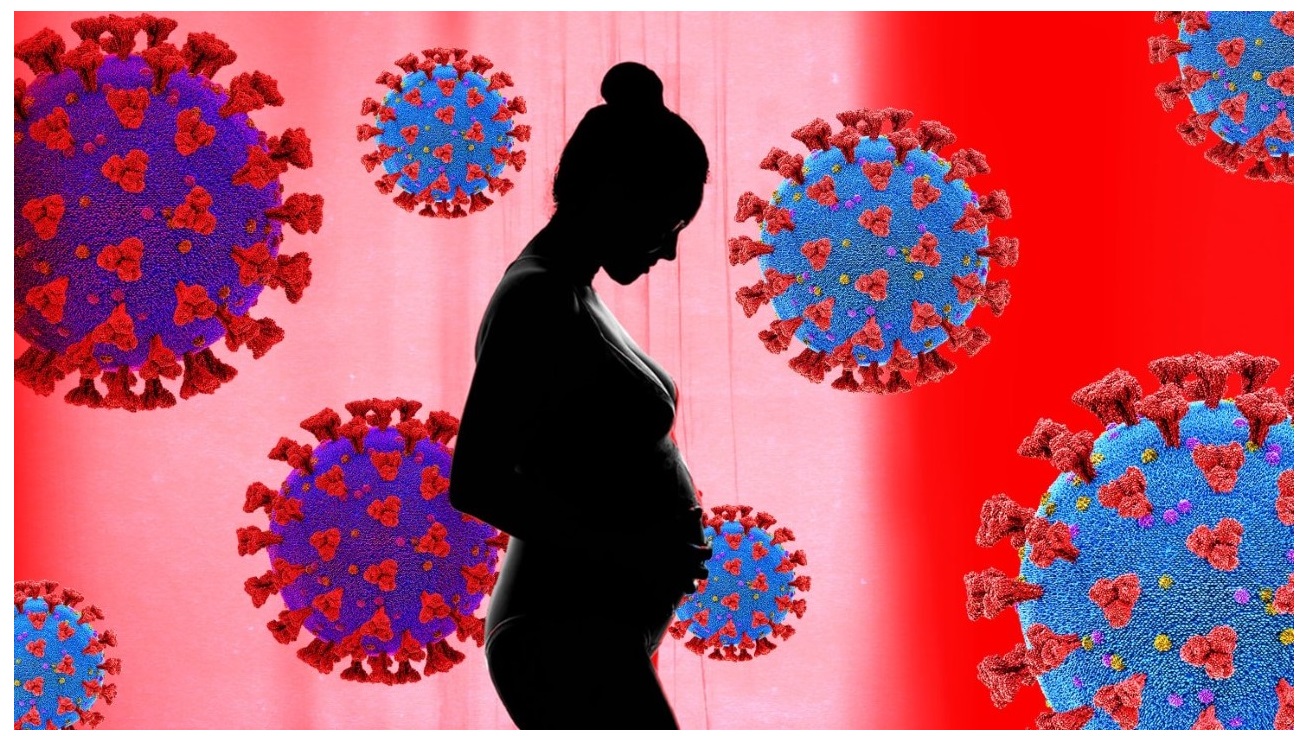 As primeiras mortes assustaram o país que, contrariando a retórica presidencial, reagiu com o isolamento social, o uso de máscaras, álcool gel e toda a parafernália do kit covid. No início, a tragédia causou forte impacto, porque fugia do quadro da normalidade. Depois, anunciadas no noticiário exibido enquanto tomamos o café da manhã ou jantamos, as mortes se tornaram corriqueiras como o feijão-com-arroz, tão trivial, tão banal e tão “normal” quanto a enorme desigualdade social, a extrema pobreza, a fome, a subnutrição, as condições insalubres de moradia, os moradores de rua com os quais convivemos diariamente.
As primeiras mortes assustaram o país que, contrariando a retórica presidencial, reagiu com o isolamento social, o uso de máscaras, álcool gel e toda a parafernália do kit covid. No início, a tragédia causou forte impacto, porque fugia do quadro da normalidade. Depois, anunciadas no noticiário exibido enquanto tomamos o café da manhã ou jantamos, as mortes se tornaram corriqueiras como o feijão-com-arroz, tão trivial, tão banal e tão “normal” quanto a enorme desigualdade social, a extrema pobreza, a fome, a subnutrição, as condições insalubres de moradia, os moradores de rua com os quais convivemos diariamente.
Mais grave do que a pandemia e a ausência de políticas públicas para combatê-la é a naturalização que, ao encarar a calamidade como algo normal, entorpece a consciência e degrada a sensibilidade. O que é, afinal, o “normal’? “Normal” é tudo aquilo que costuma acontecer, o que ocorre sempre, sem que se registre nada de diferente, de raro, de excepcional. O extraordinário se faz carne e habita entre nós. Daí, começa, então, a fazer parte do nosso cotidiano, como algo inevitável. De modo geral, é isso ai, embora o conceito de normalidade sofra algumas variações de acordo com o momento histórico, com a geografia e com a cultura.
No entanto, podemos indagar desde quando morrer intubado pode ser considerado um fato normal? Ou, pior ainda: morrer por não ter sido intubado. O Brasil registra, entre as mais de 92.000 mortes, mulheres grávidas que não tiveram acesso a um leito de UTI. Houve um enorme salto na taxa de mortalidade materna, com pelo menos 204 mulheres mortas na gestação ou no pós-parto e mais de 1.860 casos entre grávidas no país até meados de julho, segundo levantamento da Folha de SP. Militantes raivosos que defendem a criminalização do aborto em nome de uma pretensa “defesa da vida”, se calaram.
O Brasil é o primeiro país no mundo em mortes maternas associadas à Covid-19. A morte de uma parturiente e de seu filho tem um simbolismo sinistro: representa a ‘quebra’ da continuidade da espécie, a falência da própria vida em seu momento mais sublime, o da reprodução desejada. Da mesma forma que a morte de velhos sábios indígenas pode significar a extinção de línguas, o apagamento da memória, a aniquilação de saberes.
Água e cloroquina
 Levantamento feito no final de julho pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) registra 19.782 casos de infectados e 596 óbitos, como resultado dos territórios invadidos por garimpeiros, madeireiras, caçadores, que introduzem o vírus nas aldeias. Diariamente, as organizações indígenas emitem notas de pesar. Projeto aprovado pelo Congresso Nacional com o objetivo de proteger os povos indígenas teve vários pontos vetados pelo presidente Bolsonaro, entre eles, a obrigação do Governo fornecer água potável, higiene e leitos hospitalares às aldeias.
Levantamento feito no final de julho pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) registra 19.782 casos de infectados e 596 óbitos, como resultado dos territórios invadidos por garimpeiros, madeireiras, caçadores, que introduzem o vírus nas aldeias. Diariamente, as organizações indígenas emitem notas de pesar. Projeto aprovado pelo Congresso Nacional com o objetivo de proteger os povos indígenas teve vários pontos vetados pelo presidente Bolsonaro, entre eles, a obrigação do Governo fornecer água potável, higiene e leitos hospitalares às aldeias.
Várias denúncias existem sobre a distribuição de cloroquina em aldeias para dar vazão a uma produção que aumentou 84 vezes, na qual, segundo processo 022.765/2020-4 que corre no Tribunal de Contas, ocorreu possível superfaturamento na compra de insumos para sua fabricação pelo Comando do Exército, que desprezou os pareceres da Organização Mundial da Saúde e de instituições médicas do país.
O que choca mais do que a própria epidemia é nós começarmos a considerar tais mortes como “normais”. O país testa positivo para a “normose”, uma doença psicopatológica assim nomeada por Pierre Weil, doutor em psicologia pela Universidade de Paris.
Segundo Weil, existe uma crença enraizada de que “tudo o que a maioria pensa, sente, acredita ou faz, deve ser considerado como normal e, por conseguinte, servir de guia para o comportamento de todo mundo e mesmo de roteiro para a educação”. No entanto – diz ele – muitas normas sociais podem levar indivíduos, grupos e coletividades inteiras ao sofrimento moral ou físico. Por isso, é preciso questionar seriamente a normalidade de certas ‘normas’ impostas à sociedade através daquilo que é frequente e usual.
Quando pessoas estão de acordo com uma determinada opinião, atitude ou ação, forma-se um bloco consensual que ‘convence’ a maioria, o rebanho. Na sociedade de consumo, o normal parece um bem que o marketing impõe para fazer acreditar no poder de uma cloroquina. Aí a “normose” se torna um hábito de pensar e de agir aprovado por quase todo mundo, em base ao ‘senso comum’. Essa doença ataca pessoas sem que elas tenham consciência de sua natureza patogênica, escreve Pierre Weil, co-autor do livro “Normose – A patologia da normalidade”.
A normose
 A normose tem cura? Weil acha que sim, desde que o doente se submeta a uma ‘normoterapia’ que lhe faça entender que aquilo que a maioria pensa, sente, acredita ou faz não deve ser um guia para nossas vidas. Se você considera monstruosas as mortes diárias por Covid-19, então você está vacinado contra a normose. O Brasil precisa, na realidade, de cidadãos ‘anormais’, capazes de se indignar e de se rebelar contra a ‘normalidade’ desse tipo de morte e não de aceitá-la passivamente como um dado inquestionável.
A normose tem cura? Weil acha que sim, desde que o doente se submeta a uma ‘normoterapia’ que lhe faça entender que aquilo que a maioria pensa, sente, acredita ou faz não deve ser um guia para nossas vidas. Se você considera monstruosas as mortes diárias por Covid-19, então você está vacinado contra a normose. O Brasil precisa, na realidade, de cidadãos ‘anormais’, capazes de se indignar e de se rebelar contra a ‘normalidade’ desse tipo de morte e não de aceitá-la passivamente como um dado inquestionável.
A pessoa mais contaminada pela normose, que espalha essa doença pelo país, é o presidente da República. Ele fez – você lembra? – uma descoberta sensacional com aplausos da sua claque contaminada irremediavelmente pela normose: ““Vão morrer alguns idosos e pessoas mais vulneráveis pelo vírus? Sim, vão morrer. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”.
Ninguém quer milagres, mas a dignidade da vida, que o Estado cumpra seu papel em preservá-la, sem se furtar à obrigação de orientar e cuidar de forma civilizada para que não haja indivíduos abandonados em instituições públicas sem a assistência e o conforto necessários. É isso que deveria ser ‘normal’. Alguns idosos já somam quase 100.000 pessoas. Quantos mortos serão necessários para que a maioria dos brasileiros se livre da normose e se revolte contra esse estado de coisas?
A pandemia proporciona uma radiografia da sociedade para diagnosticar uma política de governo doentia, cheia de mazelas: cria ‘oportunidades’ para os corruptos de plantão, escancara o despreparo dos ‘técnicos’, desnuda a precariedade do sistema de saúde e permite discursos delirantes ‘ideológicos’, que abastecem o folclore político nacional,
Quando morreu Rosette, uma criança de 5 anos, o poeta François de Malherbe, consolou o pai dela, seu amigo, com um poema por ele escrito em 1592, comparando-a a uma rosa. Um verso dizia que a menina pertencia a um mundo, onde a beleza era punida. Reza a lenda que um erro do tipógrafo contribuiu para dar maior beleza à poesia. Ali, onde estava escrito “E Rosette viveu… foi impresso: “E Rosa, ela viveu o que vivem as rosas: o espaço de uma manhã”.
Mais ele était du monde où les plus belles choses
Ont le pire destin,
Et Rose, ele a vécu ce que vivente les roses,
L’espace d’un matin
No Brasil, hoje, muitas flores ainda em botão, que não desabrocharam, tiveram um destino ainda pior: um “E daí” debochado do Jair, o “normótico” mor.
P.S. Fomos apresentados a Malherbe, em 1966, numa aula da UFRJ ministrada pelo saudoso José Carlos Lisboa, nosso professor de literatura. Entre os alunos Maria José Lourenço, Heliette Vaitsman, Elizabeth Carvalho, Célia Maria Teixeira, Geísa Teixeira Mello, Marta Klagsbrunn, Eleonora Slenis, Clarimer de Meira Arruda, Aída Lobo, Paulo Roberto Dufrayer, Laymert Garcia dos Santos, Mônica Barreto e Analuce Estrella.