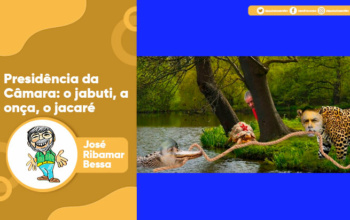“Sou o que sobrou do pássaro que voou / com tantos parentes”.
(Luiz Pucú, poeta amazonense. 2021)
– Professor, o senhor disse que aqui se cantou e dançou durante mais de um milênio. Depois veio o longo silêncio de 350 anos. Mas agora, agorinha, as pessoas estão dançando e cantando. Dá para ouvir a música, as flautas e os maracás?
Dava sim.
A pergunta do escritor Tenório Telles, presidente do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), foi feita com a voz embargada na noite de 19 de abril. Veio por whatsapp acompanhada de imagens ao vivo do Centro Histórico de Manaus, tendo como pano de fundo, grupos musicais que se sucediam cantando em diferentes línguas indígenas. Foi na inauguração do Memorial Aldeia Indígena na Praça D. Pedro II, que teve discursos, descerramento da placa e mostra do grafite no muro retratando o cemitério indígena ali existente encoberto há três séculos e meio por camadas de cimento, pedra e silêncio.
O esquecimento foi interrompido por três línguas gerais presentes na placa de aço escovado com estrutura galvanizada, que identificam agora o lugar sagrado. A versão em nheengatu – Kwá Rednáwa Yepé Tupana Ivi… – é seguida de tradução em inglês e em português:
“Aqui estão enterrados nossos antepassados… Lembrá-los é uma forma de reverenciar a memória e reparar o longo silêncio que pairou sobre essa história. Que reconheçamos, respeitemos e acolhamos esse passado, que é nosso também e a ele pertencemos”.
Urna funerária

O cemitério, que o poder público sempre ignorou, é hoje retratado no mural de 140 metros quadrados do artista Fábio Ortiz, 27 anos, filho de ribeirinhos, que exibe quatro imagens da presença indígena, incluindo mapa e urnas funerárias.
O sítio arqueológico “têm pelo menos mil anos de idade” ou mais, pois “os fragmentos de cerâmica retirados em abril de 2003 podem indicar uma antiguidade maior, chegando a mais de 1.500 anos”, na avaliação de Eduardo Neves, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele propôs que artesãos indígenas façam réplicas das urnas para serem incorporadas à paisagem da praça.
Para o tukano João Paulo Barreto, doutor em antropologia cultural, “esse território sagrado dos povos originários existiu, existe e sempre vai existir”, apesar da repressão do colonizador que silenciou línguas, pajés, religiões e saberes milenares, além de destruir muitas urnas funerárias.
Com ele concorda Marcivana Saterê-Mawé, líder da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (Copime), que criticou a versão dominante de que tudo começou “a partir da presença dos europeus negando o nosso passado, a escravidão indígena e a nossa resistência”:
– “Nosso grande problema na cidade foi sempre a invisibilidade, a negação das raízes indígenas de Manaus”.
Ela informou que hoje vivem em 62 bairros da capital do Amazonas mais de 20.000 índios de 92 etnias, falantes de 32 línguas diferentes e que o memorial é “um marco histórico que cria uma nova narrativa do processo civilizatório a partir de agora”.
Um telão na praça reproduziu discursos de lideranças indígenas: Deolinda Piratapuia, Carmelina Kokama, Francisco Maricaua e outros, além da gravação deste locutor que vos fala, que resumiu a história do território onde, antes de surgir Manaus, floresceu a “civilização da mandioca”, segundo o arqueólogo Donald Lathrap. Dela, ficou como registro o cemitério. Era lá, nesse templo a céu aberto, que celebravam cerimônias religiosas, ritos, pajelanças, tocando flautas, dançando, cantando, rezando, para reverenciar os mortos sepultados dentro de igaçabas – um pote feito de barro cheiroso, com boca larga e bojo grande.
A profanação
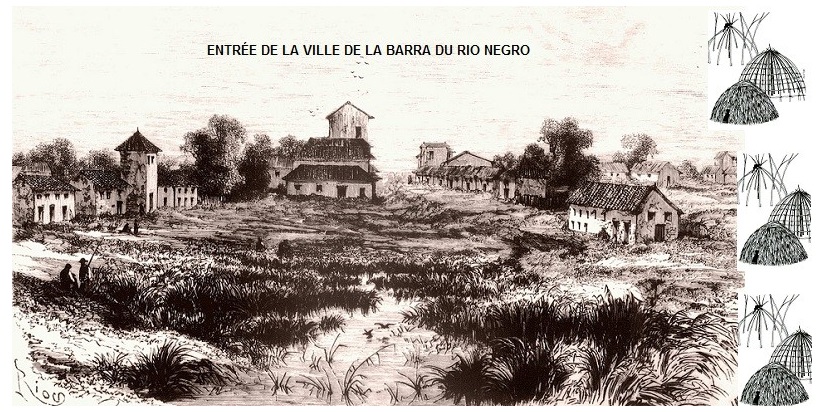 Esse lugar sagrado foi profanado pela primeira vez num sábado, em junho de 1542, por Francisco Orellana e os soldados espanhóis. Eles desciam famintos pelo rio Amazonas, quando viram ali na foz do rio Negro uma povoação, com malocas imponentes, amplas e arejadas, ao lado do cemitério. Invadiram a aldeia, incendiaram as malocas, mataram com armas de fogo muitos moradores, saquearam roças, roubando-lhes os alimentos. Depois foram embora, deixando os índios pranteando seus mais recentes mortos.
Esse lugar sagrado foi profanado pela primeira vez num sábado, em junho de 1542, por Francisco Orellana e os soldados espanhóis. Eles desciam famintos pelo rio Amazonas, quando viram ali na foz do rio Negro uma povoação, com malocas imponentes, amplas e arejadas, ao lado do cemitério. Invadiram a aldeia, incendiaram as malocas, mataram com armas de fogo muitos moradores, saquearam roças, roubando-lhes os alimentos. Depois foram embora, deixando os índios pranteando seus mais recentes mortos.
Durante mais de cem anos, os europeus retornaram muitas vezes, transitando pela área em viagens exploratórias ou em expedições para escravizar índios. Numa delas, os portugueses decidiram ficar. Foi ali, justamente, em cima do cemitério indígena, que o capitão Francisco da Mota Falcão começou a construir, em 1669, o Forte de São José do Rio Negro, erguido com trabalho compulsório dos Baniwa, Tarumã, Baré, Passé, entre outros.
O barro usado na construção militar foi retirado, ironicamente, dos potes destruídos e das sepulturas violadas. Camadas de entulho soterraram outras igaçabas nas profundezas do subsolo, como uma tentativa de apagar definitivamente da memória dos índios, dos mestiços e de seus descendentes, qualquer lembrança daquele lugar sagrado. Ultrajaram a morada dos mortos, perturbaram seu descanso eterno e tripudiaram sobre os restos dos vencidos, com a intenção deliberada de silenciá-los.
.jpg) Quando o viajante italiano Gaetano Osculati passou pelo local, em 1850, restavam apenas ruínas do Forte. Ele viu um treinamento de soldados que marchavam e com o calcanhar quebravam as igaçabas que emergiam com as chuvas. O lugar mudou no período áureo da borracha, quando importaram um coreto de Paris e ergueram uma praça, que depois disso passou por sucessivas reformas. A cada reparo, as urnas teimavam em aflorar. Nos últimos anos, a praça ficou abandonada e degradada.
Quando o viajante italiano Gaetano Osculati passou pelo local, em 1850, restavam apenas ruínas do Forte. Ele viu um treinamento de soldados que marchavam e com o calcanhar quebravam as igaçabas que emergiam com as chuvas. O lugar mudou no período áureo da borracha, quando importaram um coreto de Paris e ergueram uma praça, que depois disso passou por sucessivas reformas. A cada reparo, as urnas teimavam em aflorar. Nos últimos anos, a praça ficou abandonada e degradada.
Mas agora, no 19 de abril de 2021, mais de 350 anos depois, o local foi recuperado graças ao movimento indígena organizado, que conseguiu convencer as autoridades municipais de restaurar a sacralidade e dar vida àquele espaço com o apoio de Tenório Telles (Concultura) e Alonso Oliveira (Manauscult).
O prefeito David Almeida, em nome da cidade, num gesto carregado de simbolismo, pediu aos povos originários “perdão pelos 350 anos de esquecimento”, o que esperamos se traduza em políticas de emprego, saúde, moradia e local para exposição e venda de artesanato. Assim – quem sabe? – o perdão será concedido.
Os profetas
Concluímos nossa fala no telão da praça, parafraseando discurso do presidente Adolfo López Mateo, do México, na inauguração do Museu Nacional de Antropologia:
“O povo amazonense ergue este memorial da Aldeia da Memória Indígena em honra das admiráveis culturas que floresceram há alguns milênios aqui neste território que é, agora, a cidade de Manaus. Diante dos testemunhos dessas culturas, o Amazonas de hoje rende homenagem ao Amazonas indígena, do qual nos orgulhamos e em cujo exemplo reconhecemos características de nossa identidade e de nossa originalidade regional”.
 Vários grupos musicais se apresentaram, cantando em suas línguas que se fizeram ouvir naquele lugar depois de três séculos de silêncio: Wotchumaücü em língua tikuna, Waruna em Kokama, os rituais do Pajé Justino em Tukano, usando tanto instrumentos tradicionais como maracás, tuto, pau-de-chuva, flautas longas de taboca e cariço – a flauta de pã do Rio Negro feita de tubos de taquara, que se alternavam com outros instrumentos de percussão, violão e contrabaixo. Eram “as palavras dos profetas sussurradas no som do silêncio”, como na música de Simon & Garfunkel.
Vários grupos musicais se apresentaram, cantando em suas línguas que se fizeram ouvir naquele lugar depois de três séculos de silêncio: Wotchumaücü em língua tikuna, Waruna em Kokama, os rituais do Pajé Justino em Tukano, usando tanto instrumentos tradicionais como maracás, tuto, pau-de-chuva, flautas longas de taboca e cariço – a flauta de pã do Rio Negro feita de tubos de taquara, que se alternavam com outros instrumentos de percussão, violão e contrabaixo. Eram “as palavras dos profetas sussurradas no som do silêncio”, como na música de Simon & Garfunkel.
– Aqui, nesse lugar sagrado, hoje Aldeia da Memória, os espíritos reinam e se comunicam com a gente – garante o tukano João Paulo Barreto.
Inspirado por sua fala, ouvimos o som do silêncio e vimos se esgueirando pela praça as sombras de todos aqueles que resistiram ao poder colonial. O cacique Arawak Caybutena, velho e cego, capturado e morto por Pedro da Costa Favela. Movenominao, a menina vendida para tropas de resgates em maio de 1726. Ajuricaba, Guajaúry e Mavis, índios Manaó mortos a caminho do Pará. Goanaru, morto com sarampo em 1749. Jacabary, cacique da aldeia do Castanheiro, que resistiu à escravidão com 17 famílias por volta de 1734. Os irmãos Babari e Dejari da aldeia Tarumã. O cacique Mayapena, que lutou contra as tropas de Belchior Mendes em 1729-1730.
Mais de cem líderes indígenas que se destacaram na luta contra o colonizador entre 1640 e 1750 foram exumados dos documentos de arquivos portugueses pelo historiador David Sweet, entre eles Dadará, cacique Pavilhana, que enfrentou Sebastião Valente, em 1750. Manacassari condenado à morte por haver insultado as tropas portuguesas. Taicorema, filho do cacique Omagua, assassinado em 1721 no Lago do Cupacá, na “guerra justa” de Diogo Pinto. O cacique Tarumã Karabaina com o corpo cheio de cicatrizes. Huiuiebéue e Jauinari que aparecem, ambos, como pai de Ajuricaba.
Todos eles têm nomes. Foram sepultados com as igaçabas no esquecimento e agora assomam com o que sobrou do pássaro que voou.
 Esse foi um feito extraordinário, considerando que vivemos o tempo que está acabando da passagem da boiada do ministro do Contra Ambiente e da política genocida do agora cidadão ilustre do Amazonas – título concedido com o voto contrário de Serafim Corrêa por uma Assembleia Legislativa acocorada, servil e lambe-botas e sob o protesto do lado sadio de Manaus.
Esse foi um feito extraordinário, considerando que vivemos o tempo que está acabando da passagem da boiada do ministro do Contra Ambiente e da política genocida do agora cidadão ilustre do Amazonas – título concedido com o voto contrário de Serafim Corrêa por uma Assembleia Legislativa acocorada, servil e lambe-botas e sob o protesto do lado sadio de Manaus.
P.S. – O tema da crônica devia ser “Universidade: Território Indígena”, um texto organizado pelo COMIN – Conselho de Missão entre Povos Indígenas da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Em abril de cada ano, o COMIN celebrar a Semana dos Povos Indígenas 2021 e a luta em defesa da terra, da cultura, das línguas e das religiões indígenas.
Referências:
- David Sweet: A Rich Realm of Nature Destroyed: the Middle Amazon Valley, 1640-1750. Tese de doutorado. University of Wisconsin-Madison. 1974
- Luiz Pucú: Sou caboco do pau oco. 2021
- Textos de Cristovão Nonato (Concultura) e Priscilla Peixoto (Revista Cenarium)
- Eduardo Góes Neves: Projeto de intervenção arqueológica na Praça D. Pedro II em Manaus. 2004
- Freire, José Bessa: Contextualização histórica dos sítios arqueológicos do Centro Histórico e do bairro Nova Cidade. Relatório apresentado ao Ministério Público Federal (AM) e ao IPHAN – 1ª SR. Manaus. 2004
- Simon & Garfunkel. The Sounds of Silence. 1964
Fotos Ricardo Oliveira (Revista Cenariunm) e Oliveira Júnior (Manascult) . Tradução ao Nheengatu da placa comemorativa: Auxiliomar Ugarte com apoio de Mariazinha Baré E Edison Baré.
Versão impressa publicada no Diario do Amazonas (25/04/2021)