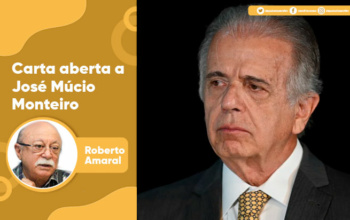A debacle da União Soviética – simbolizando a vitória do capitalismo sobre as experiências do “socialismo real”– , deveria haver ensejado tanto o fim da Guerra Fria quanto a dissolução da OTAN, em face do esvaziamento do objetivo comum: o combate à “ameaça” comunista. Não foi, porém, o que se viu, quando a URSS, em 1991, não só renunciava, unilateralmente, ao comunismo, como se decompunha perdendo de saída, com a independência de várias de suas repúblicas, cerca de 40% de seu território. A antiga “sede do mal”, agora capitalista – porém um país capitalista pobre e exangue –, se oferecia ao Ocidente, que, vitorioso, tonitruava o fim da história. Soberbo, fez menoscabo da adesão do adversário derrotado. Reinava, desde Carter, a doutrina Brzezinski, que via a Eurásia, independentemente de sua quadra política, como um possível obstáculo ao domínio global dos EUA, que queriam incontestável, seja pelo adversário ideológico da Guerra Fria, seja por outra potência econômica capitalista que viesse a emergir. Em 1991, no governo de George H.W. Bush, a “Orientação de política de defesa”, referindo-se ao mundo que se sucedia à queda do bloco comunista, afirmava que a prioridade estratégica dos EUA (isto é, da guerra), era impedir, no futuro, o surgimento de qualquer corrente global potencialmente ameaçadora da liderança de Washington. Paul Wolfowitz, subsecretário de Defesa, seu principal redator, esclarecia as preocupações do Pentágono, posto que a Rússia, mesmo capitalista e fragilizada, “continuaria sendo a potência militar mais forte da Eurásia”. Potência que, hoje, permanece como o segundo exército do mundo, dispondo, ademais, do maior acervo de ogivas nucleares do planeta, e se candidata à liderança de uma nova ordem mundial resultante do encontro da decadência do Império com a emergência da China como potência econômica, política e militar.
Impunha-se, então, nada obstante a opção pelo capitalismo, a tarefa de desconstituir a Rússia ou, no mínimo, mantê-la sitiada. Essa política continha o antigo império e fragilizava a estratégia chinesa, anulando a potência de seu principal aliado militar.
A estratégia dos EUA, vitoriosamente levada a cabo, consistiu em atrair para a órbita ocidental (ou seja, da OTAN), sob seu comando, os Estados que compunham o antigo Leste Europeu. Em 1999, se incorporam à organização militar a República Tcheca (já desmembrada a Tchecoslováquia), a Hungria e a Polônia. Em 2004 é a vez da Bulgária, da Estônia, da Letônia, da Lituânia, da Romênia, da Eslováquia e da Eslovênia. Em 2009 ingressam Albânia e Croácia; em 2017 Montenegro e em 2020 a Macedônia do Norte. Essa politica de balcanização já destruíra a Iugoslávia, mediante guerra sangrenta, de que resultou seu despedaçamento em pequenos enclaves. O mesmo processo seria mais tarde levado a cabo no Iraque e no Afeganistão. Com a “Primavera árabe” chegaria à Tunísia, à Líbia, ao Egito e à Síria, ainda em guerra intestina.
Moscou estava destinada à asfixia.
Para os objetivos dos EUA, portanto, a absorção da Ucrânia pela OTAN é o coroamento de uma política de expansão militar bem sucedida; para Moscou, impedi-la transforma-se em um imperativo de sobrevivência. A violência da invasão é seu desdobramento.
O “Comunicado Final da reunião de chefes de Estado e de governo da OTAN”, realizada em Bruxelas em 14 de junho de 2021, confirmava oficialmente que Bósnia-Herzegovina (fruto da destruição da Iugoslávia), Geórgia e Ucrânia aspiravam a se tornarem membros da Organização. O documento, em sua essência, deixava claro que antes e depois da debacle, antes e depois da adesão ao capitalismo, antes e depois de seu desastre econômico, antes e depois de Bóris Iéltsin, antes e depois de seu soerguimento sob Vladimir Putin, a Rússia fôra sempre uma obsessão para os estrategistas do Pentágono. Na última operação, preparatória da crise desses dias, os EUA haviam promovido o golpe de Estado na Ucrânia (2014) que derrubou o presidente constitucional Viktor Yanukovych, abrindo caminho para a ascensão de governos hostis à Rússia e às minorias russas, atacadas pelo exército ucraniano e milícias nazifascistas. O novo governo, um títere pró-EUA, transforma o projeto de adesão à OTAN em mandamento constitucional. Na sequência do golpe, em 2019, o Parlamento ucraniano modifica a Constituição para, já no preâmbulo, reafirmar a “identidade europeia do povo ucraniano e a irreversibilidade do curso europeu e euro-atlântico da Ucrânia”. Mas a declaração de guerra viria no parágrafo 5º do artigo 8º ao incumbir ao Parlamento o dever de implementar “o curso estratégico do Estado rumo à plena adesão da Ucrânia à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte”.
Tratando-se de sua sobrevivência, Moscou não se estabeleceu limites, e a resposta ao que considera ameaça à sua soberania foi a invasão; o fracasso da diplomacia impôs a guerra, na qual todos estamos envolvidos, fundamentalmente em suas perdas, porque toda guerra é uma tragédia.
Como observou Aldo Fornazieri (“Uma guerra do século XX”, Carta Capital, 9/03/2022), “Antes da invasão da Ucrânia, a Rússia tinha a vantagem moral, pois suas demandas eram e ainda são legítimas. Mas ao agredir injustificadamente, colocou a vantagem moral na boca de líderes ocidentais que têm as mãos sujas de sangue”. Ocorre, porém, que a vantagem moral da Rússia jamais foi considerada pelos EUA e seus servidores.
Putin, embora reconhecido como bom jogador de xadrez, parece haver subestimado a resistência dos ucranianos e ignorado a capacidade do Ocidente de impor sanções. A Rússia enfrenta um isolamento que mesmo a URSS jamais conheceu. E de bandeja entrega aos EUA bandeiras que sempre pertenceram à esquerda, como a defesa da autodeterminação dos povos, da paz e da negociação como instrumento de solução dos conflitos.
EUA e União Europeia, enquanto os embates se desenrolam na Ucrânia, estão massacrando os civis do Iêmen, armando a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Mas isso não faz sangrar os corações piedosos: os iemenitas são apenas árabes, não têm cabelos loiros nem olhos azuis.
Sob o pretexto da guerra, a pauta internacional anuncia mais exércitos, mais armas e mais conflitos. Sob os aplausos da EU a Alemanha de Olaf Scholz promete um reforço de 100 bilhões de euros nos investimentos militares, a elevação do orçamento do exército de 1,5% para 2% do PIB, ao tempo em que anuncia um programa de exportação de armas. Em festa o complexo industrial militar. A periferia que se cuide.
Para alguns analistas, Moscou caiu em uma armadilha dos americanos. Se vero, terá sido a segunda vez, pois antes tropeçara na malsucedida intervenção militar no Afeganistão, uma guerra que começou perdida, enquanto a CIA, sob as ordens de Jimmy Carter, fortalecia as organizações terroristas que nos anos seguintes iriam ensanguentar metade do mundo. Zbigniew Brzezinski, o estrategista da Casa Branca, perguntado se não se havia arrependido de haver armado o terrorismo que ousara o 11 de novembro, respondeu dizendo que a destruição da URSS era a grande compensação. Para todos os efeitos, aos olhos do império ora declinante, a Rússia é a sucessora da URSS.
A batalha da Ucrânia tem todos os ingredientes para se transformar em um estorvo mundial, posto que o que menos pesa é a integridade de seu território ou o direito de seu povo à autodeterminação. O que está em jogo corre por fora de seus interesses. Nesta briga, a Ucrânia (apesar de invadida e em guerra), não exerce o papel de sujeito. O que está em jogo não é sua soberania ofendida, mas o doloroso parto de uma nova ordem mundial; um jogo de poder, vital para as potências envolvidas, as quais, numa disputa de vida e de morte, de sobrevivência ou extinção, não conhecerão limites. Os EUA podem chegar ao final dessa guerra que alimentam sem a perda de um só homem: em seu nome morrem civis e militares ucranianos. O que está em disputa, e é pelo que velam os norte-americanos e a Europa submissa, é a definição da nova ordem mundial, pois vivemos os últimos tempos da hegemonia anglo-saxã, reinante desde pelo menos 1815, superada pela emergência da Eurásia. Trata-se do doloroso parto de uma nova hegemonia, que põe em xeque a decadência do Império ante a emergência da China; trata-se do possível trânsito do poder do Ocidente para o Oriente, do Atlântico para o Pacifico.
A História não conhece transição pacifica de poder, e a disputa da história presente comporta todas as hipóteses de desfecho. Descartada a eventualidade de uma vitória esmagadora de um dos lados, tanto podemos caminhar para um limitado acordo de paz, que será mero interregno antes do próximo embate, quanto podemos caminhar para uma escalada de conflitos levando a economia mundial a uma crise sem precedentes, anunciadora de inflação e depressão – o que, sabidamente, é mais um elemento alimentador da guerra.
Este raciocínio não considera a ameaça do suicídio atômico.
Há um óbvio jogo. Aos EUA, em face do progressivo crescimento da China, é mais conveniente antecipar o desfecho. E, quando põe em risco a sobrevivência da Rússia, parceira fundamental de Beijing, Washington está mirando a China, seu verdadeiro adversário. Para a China a guerra é indesejável, pois espera ascender ao pódio conduzida pelo processo histórico que vê a seu favor.
Se sobreviver um mínimo de bom senso, os senhores da história presente evitarão vitórias (e derrotas) esmagadoras, e assim, darão mais tempo de vida à humanidade.
***
Advertência – Que o Peru nos sirva de aviso sobre os riscos de uma governabilidade conservadora. Pedro Castillo fez as concessões que podia e não podia à direita, e ainda assim quase ninguém acredita que encerre o ano no cargo de presidente. As tratativas visando à sua deposição são comandadas por três partidos de direita, liderados pelo Força Popular, da ex-candidata Keiko Fujimori, que perdeu para Castillo as eleições do ano passado.
Luz no fim do túnel – A dois meses das eleições presidenciais, a esquerda colombiana foi a grande vencedora nas eleições primárias e legislativas. O ex-guerrilheiro e senador Gustavo Petro obteve 4,4 milhões de votos e ampliou a bancada no Congresso.
* Com a colaboração de Pedro Amaral