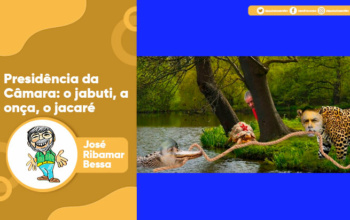“Que pena a vida ser só isto…” (Cecília Meirelles, 1963)
À semelhança dos três mosqueteiros que, na realidade eram quatro, os cinco “nervosos” na verdade eram seis.
Ninguém sabe explicar de onde vieram, nem eles mesmos. Talvez porque não tenham vindo de lugar algum. Os vizinhos juram que não escutaram barulho de mudança. O que se sabe é que, de repente, numa manhã chuvosa de dezembro de um ano qualquer, da década de 1970, eles estavam lá, naquele barraco da rua Ramos Ferreira, que durante meses permanecera desocupado. Parece que haviam brotado espontaneamente do chão, qual capim entre paralelepípedos.
O primeiro a se dar conta foi Abdoral, o Bibi, vizinho deles, que trabalhava no Distrito Industrial em tarefas rotineiras no setor eletroeletrônico. Cedinho, ainda escuro, Bibi foi dar milho às galinhas no fundo do quintal, quando ouviu gemidos, seguidos de um soluço sofrido, misturando-se ao canto das gotas de chuva sobre o telhado de zinco.
– Ou é gente ou é visagem – pensou. Deu de ombros e foi trabalhar.
Era gente.
À tardinha, voltando cansado do Distrito, Bibi parou no quiosque do Sacy, quase na esquina da Luís Antony e pediu uma dose de cachaça de jambu que dava uma dormência agradável na língua. Viu que a fofoca corria solta. Todo o bairro já sabia que tinha gente nova no pedaço. Quem?
As famílias no bairro de Aparecida têm nome: Nogueira, Paixão, Andrade, Feitosa, Cabral, Ventura, Cordeiro, Marreiros, Pimentel, Soeiro… Mas os recém-chegados não tinham identidade familiar. Passaram a ser conhecidos como “os nervosos” em razão de fatos insólitos. O apelido – criação anônima e coletiva – se alastrou como a impingem na bunda do seu Celino sapateiro. Com o tempo, até os próprios “nervosos” o assumiram:
– Muito prazer. Vivaldo Nervoso, às suas ordens.
Por fatos como esse é que minha amiga Freida Bittencourt sempre diz:
– Nem a antropologia e a psicanálise juntas dão conta do bairro de Aparecida.
Vai estalar
 Eu já disse que “os nervosos” eram cinco? Disse sim. Cinco irmãos.
Eu já disse que “os nervosos” eram cinco? Disse sim. Cinco irmãos.
Vivaldo, o mais velho, chefiava o clã. Em algum momento, alguém falou que ele era aposentado da Secretaria de Fazenda e com a minguada pensão de auxiliar administrativo mantinha toda a família. Ninguém conferiu. Ficou sendo verdade.
Os outros quatro “nervosos” eram todos mulheres: Alzira, Luci, Dulcila e Tereza. E o sexto? O Aloísio se apresentava como sobrinho deles, ninguém sabe como, porque os cinco irmãos, todos solteiros, não haviam tido filhos. Talvez fosse filho de um sétimo “nervoso”, falecido antes da família irromper no barraco da Ramos Ferreira, ao lado da Vila São Vicente de Paula. Talvez.
Todos eles – por isso a denominação de “nervosos” – viviam permanentemente apavorados. Tinham medo de tudo. De sair. De ficar em casa. Da chuva. Dos carros, E das inúmeras moléstias que os afligiam. Hipocondríacos, competiam para ver quem tinha mais doenças. Numa terça-feira, dia de novena, Arnaldo – o “nervosão” – saiu gritando pela rua Coronel Salgado, driblando as barracas dos feirantes, com as duas mãos em concha apertando a cabeça:
– Vai estalar! Minha cabeça vai estalar!
Durante anos, Arnaldo repetiu muitas vezes a mesma cena. Até que em 1992, no momento da visita da Pastoral da Saúde da Paróquia de Aparecida, ele disse pela milésima e última vez, com a voz já debilitada:
– Dona Elisa, minha cabeça vai estalar. Cuide de minhas irmãs.
Morreu, levando consigo a enxaqueca crônica. No velório sem choro nem vela, suas irmãs se deram as mãos em torno do caixão e cantaram uma cantiga de roda de uma infância remota.
– A pombinha voou, voou, foi embora e me deixou.
Os outros
 As quatro irmãs e o sobrinho, na maior pindaíba, quase morrem de fome. Algumas paroquianas, entre elas dona Elisa, realizavam visitas semanais levando um rancho: arroz, feijão, azeite, açúcar, sal, café e um vidro azul escuro de leite de magnésia.
As quatro irmãs e o sobrinho, na maior pindaíba, quase morrem de fome. Algumas paroquianas, entre elas dona Elisa, realizavam visitas semanais levando um rancho: arroz, feijão, azeite, açúcar, sal, café e um vidro azul escuro de leite de magnésia.
Dois meses depois, Alzira “Nervosa” seguiu o irmão e subiu o Boulevard Amazonas. Ela tinha um estranho chiado no peito e um soluço crônico que nunca parava. O diafragma contraído, a glote fechada e – hic! – lá vinha um soluço refratário – hic! – às vezes um “pou” como o ruído de rolha de garrafa de champagne. Depois de tomar litros de óleo de folha de estragão, Alzira morreu soluçando, com mais de 90 anos, sem haver vivido um só dia.
A doença de que Luci – a outra irmã – se queixava era “vento virado”. Nunca sentira prazer de sentar normalmente no vaso sanitário, com um jornal, para fazer uma boa leitura.. A todo mundo que a visitava, pedia logo um vidro de leite de magnésia de Phillips. Esvaziou centenas deles e enfrentou muitas sessões com benzedeiras, sem resultado. Continuou entupida até morrer.
Tereza, com quase 80 anos, passou a tomar conta da família. Vivia escarrando pelos cantos da casa e verificando, obsessivamente, se o cuspe continha sangue. Encasquetou na cabeça, desde pequena, que contraíra tuberculose, que as bactérias entraram pelos pulmões, abriram duas cavernas e migraram para o sistema nervoso, se apoderando de seu corpo. Recusava radiografia com medo de que o exame desmentisse sua certeza. Adorava falar sobre seu tema predileto: tuberculose. Com suores noturnos, foi perdendo peso, minguando.
Dulcila, a caçulinha, fez 77 anos em janeiro de 1993. Vivia entrevada, com reumatismo. Queixava-se de artrite, bursite, bico-de-papagaio e distúrbio de labirinto. Sozinha, tinha mais doenças que frei Damião e irmã Dulce juntos.
Mãos gagas
 As duas sobreviventes – Tereza e Dulcila – cuidavam do Aloísio “Nervoso”, que tinha, então mais de 50 anos, era gago e ostentava fama de abirobado, com um parafuso frouxo. Mas estava crente de que era ele que tomava conta das tias. O seu maior sonho era ter um radinho. A Preta deu-lhe um de presente, acrescentando ao rancho mensal um jogo de pilhas. Ele ouvia rádio de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Embaralhava as notícias. Quando falava, os dedos se moviam na cara do interlocutor como se estivesse matando mosca, numa gagueira também das mãos:
As duas sobreviventes – Tereza e Dulcila – cuidavam do Aloísio “Nervoso”, que tinha, então mais de 50 anos, era gago e ostentava fama de abirobado, com um parafuso frouxo. Mas estava crente de que era ele que tomava conta das tias. O seu maior sonho era ter um radinho. A Preta deu-lhe um de presente, acrescentando ao rancho mensal um jogo de pilhas. Ele ouvia rádio de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Embaralhava as notícias. Quando falava, os dedos se moviam na cara do interlocutor como se estivesse matando mosca, numa gagueira também das mãos:
– Do-na Preta, do-dona Preta, a senhora já foi ao Va-vaticano. Conhece o Pa-papa, do-dona Preta. A Bósnia é He-herzegovínia? – perguntava no auge da Guerra da Bósnia.
Aloísio adorava música. Quando cantava “Tornei-me um ébrio” não gaguejava. Trazia na cintura um pedaço de cano de plástico marca “tigre”, que enfiava na boca até a garganta para sua voz ficar poderosa como a do Vicente Celestino.
Os três “nervosos” sobreviventes foram despejados não se sabe bem por quem, nem as razões. Mudaram lá pras bandas de São Jorge, na Vila da Prata, um casebre com sala, quarto e cozinha. Mas continuaram com a assistência das paroquianas de Aparecida, apoiadas por um senhor do Centro Espírita Amor e Luz, que também passava por lá, dava banho no Aloisio, fazia a barba dele, cortava-lhe o cabelo, aparava suas unhas.
Não fosse dona Elisa e a Preta terem me contado a história dos nervosos, eles desapareceriam do planeta sem deixar vestígios de suas vidas cruzadas, que acabam sendo uma metáfora de um Brasil que nem sempre dá certo. Somos todos nervosos num país no qual domésticas não podem viajar para a Disney, funcionários públicos são parasitas e os índios “estão evoluindo e já são seres humanos como nós”. A linguagem parece de ficção, mas os fatos são fragmentos da realidade. Afinal, como queria Oswald de Andrade, “a gente escreve o que ouve, nunca o que houve”. A Preta, minha irmã, ainda está viva e não me deixa mentir. Ou deixa?