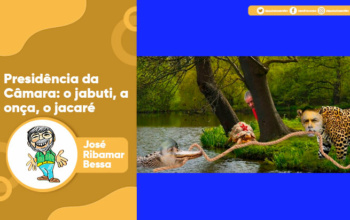Muitos documentos históricos do Arquivo de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, foram destruídos porque a instituição não tinha verba nem para comprar papel higiênico. Aí, quando seus funcionários sentiam vontade de “descomer”, corriam ao banheiro e, no caminho, arrancavam folha de livro raro ou de manuscrito antigo com a qual se limpavam após “pintarem a porcelana” do vaso sanitário. Dito assim, parece “folclore”, mas não é. Lévi-Strauss, que por lá passou em 1938, copiou do quadro de avisos e publicou em “Tristes Trópicos” o seguinte ato administrativo assinado pelo diretor:
“É rigorosamente proibido arrancar páginas dos arquivos para uso sanitário e higiene pessoal. Os infratores serão severamente punidos”.
A tentativa de salvar o acervo com ameaças não surte efeito. É preciso mudar a política que reduz drasticamente o orçamento das instituições culturais. As comparações já foram feitas pela mídia. O orçamento contempla R$ 520 mil anuais para a manutenção básica do Museu Nacional, menos do que a Câmara de Deputados gasta anualmente para lavar seus 83 carros oficiais. Em 2018 o Museu já gastou R$ 268,4 mil, o equivalente ao que é devorado em dois minutos – eu falei 2 minutos – pela máquina judiciária no Brasil. Nesse sentido, o incêndio foi deliberado. Não tem água que apague tal incúria.
Se cortarem o papel higiênico do STF, por exemplo, folhas dos processos arquivados vão desaparecer, o que provavelmente alegrará os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, mas apagará para a posteridade os delitos cometidos por Temer, Aécios, Jucás, Maruns et caterva. A não ser que os ministros regiamente remunerados imitem o desprendimento de funcionários de algumas universidades federais que, com seus parcos salários, organizam mensalmente uma vaquinha para suprir os sanitários com papel.
A vaquinha comprova que essa forma lenta de destruir a memória de uma nação nem sempre funciona. Mas há um método mais rápido e infalível que elimina tudo de uma só tacada: o fogo. Basta reduzir o orçamento das instituições nos itens de manutenção da rede elétrica, sistema de prevenção de incêndios e outros equipamentos. Tal política cultural de sucessivos governos causou nos últimos dez anos incêndios em São Paulo que destruíram, entre outros, o Memorial da América Latina, a Cinemateca Brasileira, o Museu da Língua Portuguesa, e, no Rio, prédios da UFRJ: Palácio da Praia Vermelha, Laboratório de Microbiologia, a própria Reitoria e, agora, o Museu Nacional .
Morte anunciada
 – O Museu vai pegar fogo – advertiu no dia 3 de novembro de 2004 seu diretor Sérgio Alex Azevedo em entrevista à repórter Daisy Nascimento da Agência Brasil, lembrando que um laudo de dezembro de 2003 identificara instalações elétricas inadequadas, infiltrações e necessidade urgente de um sistema de combate a incêndio. Precisava R$ 40 milhões para a reforma total do prédio, mas o MEC não liberou a verba, muito inferior aos R$ 51.030.866,40 encontrados depois pela Polícia Federal no bunker de Geddel Vieira. De lá para cá, ano após ano, a situação só se agravou. Tratava-se da crônica de uma morte anunciada.
– O Museu vai pegar fogo – advertiu no dia 3 de novembro de 2004 seu diretor Sérgio Alex Azevedo em entrevista à repórter Daisy Nascimento da Agência Brasil, lembrando que um laudo de dezembro de 2003 identificara instalações elétricas inadequadas, infiltrações e necessidade urgente de um sistema de combate a incêndio. Precisava R$ 40 milhões para a reforma total do prédio, mas o MEC não liberou a verba, muito inferior aos R$ 51.030.866,40 encontrados depois pela Polícia Federal no bunker de Geddel Vieira. De lá para cá, ano após ano, a situação só se agravou. Tratava-se da crônica de uma morte anunciada.
Em algumas horas, as chamas devoraram coleções de importância internacional: a de paleontologia, com ossadas de animais brasileiros pré-históricos, a de arqueologia, a egípcia, a africana e a de arte indígena. Durante dois séculos, o Museu Nacional organizou um acervo com mais de 20 milhões de itens, salvaguardando patrimônio cultural da nação brasileira, da ciência e do mundo. Salvou-se o acervo da Biblioteca Central, localizada em outro prédio, mas queimaram 37 mil títulos, alguns deles obras raras, da Biblioteca Francisca Keller do Setor de Antropologia Social, uma das mais importantes nessa área.
O valor de uma biblioteca universitária foi destacado por Theodor Berchem, reitor da Universidade alemã de Wurzburg:
“Se o mundo desaparecer, mas uma só universidade for poupada, a partir dela e de seu acervo poderemos reconstruir uma grande parte do saber atual”.
Efetivamente, o Museu Nacional permitiu ressuscitar destruídas formas de vida. Foi em sua reserva técnica que o índio Constantino Cupeatucu fotografou, em 1989, antigo artefato tikuna da Coleção Nimuendaju, levando a foto para a aldeia no Alto Solimões, quando então os velhos lembraram como era o processo de confecção, o material usado, seu significado. Aí sentiram necessidade de criá-lo e usá-lo outra vez, o que foi feito.
Foi assim que aconteceu o milagre. O Museu Nacional deu vida a algo que permanecia morto e permitiu “resgatar da tragédia uma mensagem de esperança e de autoestima”, como observou James Clifford em relação a processo similar dos índios Kwakiutl no Canadá. Um museu não é um mero acumulador de objetos, mas um centro dinâmico, pulsante de vida, capaz de parir o novo, de narrar histórias de luta e de vitalidade cultural. Ainda mais o Museu Nacional que abriga cursos de pós-graduação e pesquisadores renomados de reconhecimento internacional.
Quando um Museu como o Nacional deixa de existir, quais saberes podemos reconstruir? A pergunta foi feita nesta terça (4) em evento na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Campo Grande (MS), na apresentação do Centro de Documentação Indígena Antônio Brand (CEDOC).
Na mesa redonda compartilhada com Eliel Benites, Levi Marques e Adir Casaro, a tragédia do Museu Nacional foi pranteada. Lembramos que dos 12 mil documentos do CEDOC já catalogados, uma pequena parte foi copiada do arquivo do Museu Nacional, cuja valiosa documentação de línguas indígenas incluía o material  coletado por Curt Nimuendajú em quase 50 anos de trabalho de campo, o original do seu mapa étnico-histórico-linguístico com a localização das etnias do Brasil, o arquivo sonoro com gravações de narrativas e cantos em algumas línguas que hoje não são mais faladas e com o incêndio morreram pela segunda vez.
coletado por Curt Nimuendajú em quase 50 anos de trabalho de campo, o original do seu mapa étnico-histórico-linguístico com a localização das etnias do Brasil, o arquivo sonoro com gravações de narrativas e cantos em algumas línguas que hoje não são mais faladas e com o incêndio morreram pela segunda vez.
Objetos feridos
O linguista Aryon Rodrigues considera que a queima de arquivos de línguas indígenas sepultam fenômenos raros ou únicos, extremamente importantes para a melhor compreensão da linguagem e da cognição humana. O historiador mexicano León-Portilla completa:
“Quando morre uma língua se fecham a todos os povos do mundo uma janela, uma porta, desaparecem discursos, preces, cantos, sombras de vozes silenciadas para sempre: a humanidade se empobrece”. Foi o que aconteceu. Todos ficamos irremediavelmente mais miseráveis.
– As ruínas do Museu deveriam ser deixadas como estão como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos. Eu não construiria nada naquele lugar que possa apagar o que aconteceu. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé. Um memorial lembrando o descaso de todos os Governos, e desse Governo ilegítimo em particular, com cortes dramáticos nos orçamentos da cultura e da educação – disse em entrevista o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, pesquisador do Museu Nacional.
 Nessa perspectiva se situa o Museu das Missões, em São Miguel (RS), situado dentro de um sítio arqueológico, com a manutenção da fachada da antiga igreja jesuíta, em ruínas, a qual se acrescentou fachadas envidraçadas que impactaram cerca de 70 professores guarani em visita que com eles fizemos em 2010. Da mesma forma a exposição “Objets blessés, la réparation en Afrique” realizada em 2007 pelo Museu do Quai Branly, em Paris, questiona a concepção de que a restauração deve restituir ao objeto seu aspecto original e propõe outras técnicas capazes de visualizar as feridas, cicatrizes e marcas sofridas pelo artefato ao longo do tempo.
Nessa perspectiva se situa o Museu das Missões, em São Miguel (RS), situado dentro de um sítio arqueológico, com a manutenção da fachada da antiga igreja jesuíta, em ruínas, a qual se acrescentou fachadas envidraçadas que impactaram cerca de 70 professores guarani em visita que com eles fizemos em 2010. Da mesma forma a exposição “Objets blessés, la réparation en Afrique” realizada em 2007 pelo Museu do Quai Branly, em Paris, questiona a concepção de que a restauração deve restituir ao objeto seu aspecto original e propõe outras técnicas capazes de visualizar as feridas, cicatrizes e marcas sofridas pelo artefato ao longo do tempo.
No ano do golpe militar, em 1964, aos 17 anos, um amigo do bairro de Aparecida, Newton Reis, me emprestou um livro de capa amarela “A História da Filosofia”, do norte-americano Will Durant, que ele retirou da biblioteca do seu pai, o velho Zany dos Reis. Lá está a biografia do filósofo judeu Spinoza, excomungado pela Sinagoga no séc. XVII, autor de uma frase que me marcou:
– Se esquecemos o passado, ele volta.
Com o apagamento das fontes históricas, aquele passado incômodo parece estar voltando para nos assombrar, o que é confirmado pelos comentários vergonhosos sobre o incêndio de Carlos Marun, Marcelo Crivella e Jair Bolsonaro. Felizmente – como escreveu um pesquisador do Museu – a ação solidária de estudantes, professores e técnicos começa a juntar os cacos do que sobrou e a plantar as sementes do que virá renovado e se traduzirá em novas formas de colecionamento e exposição.