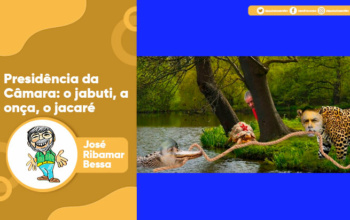“Quando um cachorro morde um homem, não é notícia,
mas se um homem morde um cachorro, isso é notícia”.
(Charles Dana, redator do New York Tribune, 1862)
Será que chorar aqui a morte do meu amigo Roberto Luís pode ser reprovável? Afinal, ele nunca foi mordido por um homem para assim virar notícia, conforme lição controversa ensinada outrora nos cursos de jornalismo, que exaltavam o “inusitado” e o “fantástico”. Diariamente morrem milhares de indivíduos, mas as páginas dos jornais não estão abertas para questão pessoal e corriqueira, ainda mais quando há assuntos atuais de interesse coletivo: agressões contra as conquistas sociais, os índios, o meio ambiente, o movimento LGBT, as universidades, a justiça, a saúde pública, a vida.
O que é uma morte anônima diante de fatos recentes como o incêndio criminoso da Casa de Reza dos Kaiowá em Dourados (MS) e a reforma da previdência? Sem contar os diálogos indecentes do ministro da Justiça ou a provável nomeação do fritador de hambúrguer como embaixador nos Estados Unidos: the right man in the right place.

Apesar de Roberto Luís ser um ilustre desconhecido, peço licença ao respeitável público para prantear nesta crônica a morte de alguém sem renome, que viveu sua vida pacata no anonimato, longe das luzes da ribalta, ao contrário do genial cantor e compositor João Gilberto que até “era uma pessoa conhecida”, como descobriu o presidente, que fala em nome do Brasil, para orgulho – imagino – dos seus 57 milhões de eleitores e vergonha da outra metade do país.
Lembro que a crônica, como gênero textual, independe dos fatos que são notícia e não deve ser necessariamente opinativa, o que dá certa liberdade temática ao cronista. Situada assim entre o jornalismo e a literatura, a crônica abre um espaço para o poesia.
Procura da poesia
Carlos Drummond de Andrade, em 1945, já nos alertava em A procura da poesia:
– “Não faças versos sobre acontecimentos. Nem me reveles teus sentimentos. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia”.
Para o poeta, a morte de um ser querido e os esqueletos de família são imprestáveis e desaparecem na curva do tempo. Ele nos aconselha a penetrar surdamente no reino das palavras onde “estão os poemas que esperam ser escritos”.
Incapaz disso, permaneço nesse entre-lugar, na fronteira entre o jornalismo e a literatura, para comentar a morte de Roberto Luís e relatar um pouco a vida de quem não conheceu sua mãe e foi abandonado ainda bebê no portão da PUC de Petrópolis, onde nunca entrou. Lá não havia sistema de cotas. Ele era preto. Ao ser recolhido, tremia de frio, de fome, muito assustado, traumatizado pelo enjeitamento. Foi aí que o adotamos.

Desamparado, nos primeiros dias se encolhia debaixo de uma cadeira de embalo, como se fosse o útero materno. Foi preciso muita conversa e muito carinho para que se sentisse em casa, naquela que seria para sempre sua morada, onde conviveu harmoniosamente com um gato, que uma ou outra vez o esbofeteou, sem revide de sua parte.
Quando chegou, trazia uma pulseirinha com o nome com o qual o batizaram: Neco. Mudamos para “Patife”, um paralelo com seu antecessor, o finado “Canalha”, mas não colou, ele foi “Patife” apenas por algumas semanas. Ele era demasiado pacífico e dócil, incapaz de qualquer agressão. Aí, por causa das enormes orelhas e de um prognatismo superior, que segundo as más línguas lhe conferiam um ar de bobinho, começou a ser chamado apenas de Bob para não ofender a quem já era cheio de complexos.
Em geral, é o nome de batismo que gera o apelido como todo Francisco que acaba sendo Chico. Com ele ocorreu o inverso. De Bob virou Roberto. Depois, passamos a usar um apelido composto – Bob Lucho – em homenagem a um amigo colombiano que um dia se hospedou em casa e por ele se acarinhou. Foi assim que se originou o nome pomposo de Roberto Luís pelo qual raramente era chamado, apenas em momentos especiais:
– Corre, Roberto Luís – gritei quando três marmanjos tentaram me assaltar numa noitinha em que fazíamos nosso passeio habitual pelo parque. Segui o exemplo de minha mãe que me chamava sempre pelo apelido, mas na hora de me dar um esporro, usava meu nome completo com todos os “ff” e “rr”.
Epitáfio para um cão
Quando chegou, ainda pequeno, Roberto Luís encarou uma dieta vegana, aceitava comer arroz com feijão alternado com ração. Depois foi se empoderando e ficou exigente, sem ser abusivo, separando o que não gostava no prato. Assumiu que era carnívoro.
Socialmente sempre foi visto como filho da Elvira-lata, até que recentemente uma senhora bonita se acercou no parque, lhe fez carinhos, avaliou suas orelhas grandes – uma delas caída – suas patas curtas e seus pelos grossos, constatou sua mansidão, seu temperamento amigável e brincalhão e concluiu, então, com ar de especialista, que embora mestiço, ele tinha traços da raça Corgi, a mesma de um dos cachorros da rainha da Inglaterra, conhecido por guiar os rebanhos no País de Gales. Mas Bob Lucho vagou e andou para essa pretensa origem aristocrática. Continuou sendo o humilde de sempre.

Na época do golpe contra a presidenta Dilma Roussef quando uma parte do Brasil saía às ruas para atender o apelo do pato da FIESP e a outra parte manifestava-se contra, Bob Lucho cumpria seu dever cívico, desfilando pelo menos em duas edições da “Cãominhada no Campo de São Bento”, realizada sempre em outubro, em Niterói. Ele confraternizou com seus colegas e chegou a ser atendido gratuitamente numa barraca da Universidade Federal Fluminense instalada no percurso da manifestação.
Foram 16 anos de convivência diária. Durante a vida fui seu melhor amigo, o seu humano de estimação, mais ainda do que o gato León que ficou solitário e triste com sua partida. Aprendemos um com o outro a fidelidade e a gratidão, que ele sabia manifestar com o gesto de um irresistível olhar, terno e doce, o rabinho balançando de alegria, mesmo quando as forças já o abandonavam. Ele era manso e humilde de coração. Talvez a poesia resida aí: na ternura, em todas as línguas, em todas as culturas, em todas as espécies.
Nesta segunda (17), Roberto Luís, o Bob Lucho, morreu do coração em minha casa, chamando atenção para a finitude da existência. A dedicação do veterinário Daniel Faustino prolongou sua vida além do possível. Aqui estou agora com a dor da perda, reverenciando a sua memória por seu legado de ternura e alegria de viver, contaminado por sua lealdade e fidelidade que nem sempre pautam a conduta humana.
.jpg)
Lembrei do poeta Lord Byron, representante do romantismo britânico, que escreveu “Epitáfio para um cão”, poema gravado na lápide do monumento onde sepultou seu cachorro Boatswain, em 1808. Parodiando uma frase a ele atribuída, confesso que quanto mais conheço a trajetória de homens como Bolsonaro, Dias Toffoli et caterva, mais estimo os animais.
P.S. – Nesta terça (16), na Livraria Timbre, no Shopping da Gavea (RJ), o escritor Márcio Souza autografou durante três horas o seu livro “História da Amazônia. Do período pré-colombiano aos desafios do século XXI” (Editora Record. Rio. SP. 2019. 391 pgs). A ideia do livro começou na Universidade da Califórnia, Berkeley, quando Márcio foi convidado para ministrar duas disciplinas: O moderno romance brasileiro, em português e Images of the Amazon, em inglês. Trata-se de uma ampliação de um texto anterior a “Breve História da Amazônia”. O prefácio é de Brigitte Thiérion – Maître de conférences da Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, que se refere a “uma história sombria por muitos aspectos, que diz muito das capacidades predatórias da civilização norteada pela ideia do progresso a todo custo e pelo gosto imoderado do poder”.