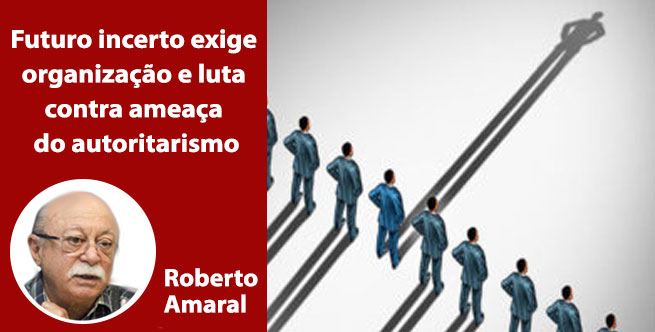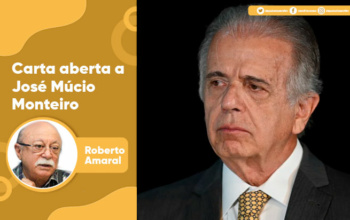Diversas são as análises sobre o quadro político de nossos dias, como é natural. Todas, cada uma do seu ponto de vista, pertinentes, embora muitas tropecem no erro que de verem congelada uma realidade que, por natureza, é mutante, como o processo social, do qual, a rigor, só logramos conhecer a aparência. Refiro-me, por exemplo, à leitura que se faz do governo do capitão Bolsonaro como fato em si, uno, completo. Vendo o momento presente de forma estática, e projetando sua continuidade, ficamos desprotegidos, sem condições de enfrentar o novo, o que está por vir, construído por forças que ainda não dominamos.
Quem assim procede corre o risco de ser atropelado pela História.
Presos ao hoje, ao aqui e agora, muitas vezes fomos levados a confundir o contingente com o essencial, e supor que a vida nacional está encerrada ora no palácio do planalto, ora na portaria do palácio alvorada, ora mesmo em Brasília. Tudo, por óbvio, faz parte da realidade, mas não é a realidade toda.
Mesmo o governo do capitão vem sofrendo mutações e, embora sem alterações essenciais, já não é o mesmo do início do mandato. Além disso, como sabemos, o bolsonarismo não consiste em um experimento autônomo, comprometido que está com a ascensão do populismo de extrema-direita em todo o mundo. Torna-se secundária, a esta altura, a provável insanidade do capitão e sua conhecida limitação cognitiva, pois, por loucura ou razão, o presidente não abdica de seu projeto político, um estado autoritário clássico, de feições fascistas, que flerta com a morte, como tem ficado evidente com seu comportamento genocida diante da pandemia.
O fato objetivo, a cobrar nossa atenção, é o projeto autoritário protofascista, ao qual precisamos nos antecipar, para impedir que germine.
Há sim, um desafio presente, e sua gravidade ainda está muito longe de ser estimada como seus danos, que já se sabem catastróficos, a crise sanitária, em seus primeiros passos. FMI, Banco Mundial e OCDE já anunciam que as maiores economias mundiais, a brasileira incluída, estão em queda livre. E o vírus apenas inicia sua incursão em nossas favelas superpopulosas e em nossas periferias desassistidas de qualquer sorte de serviço público, a começar pela ausência absoluta de saneamento. Mesmo essa realidade, por mais que contundentemente esteja presente em nossas vidas, não a dominamos, pois não dominamos o processo evolutivo do coronavírus, nem sua potência de propagação. Sabemos porém que está em preocupante aceleração. Ainda não temos a conta de suas vítimas e muito menos podem as autoridades sanitárias estimar quantos óbitos ainda serão registrados. Por enquanto, mesmo a ciência, em quem tudo justamente apostamos (menos o terraplanismo do capitão, por óbvio), ainda tateia, e a produção e distribuição em massa de vacinas, o único caminho para deter a pandemia, deve demorar, dados de hoje, algo como dois anos.
Enquanto a ciência cuida do vírus, cabe-nos cuidar de suas consequências na vida política do país. Somos chamados a intervir, estendendo nossas vistas para o além de hoje, que rapidamente se transforma em passado.
Essas considerações foram inspiradas na tragédia mundial e brasileira da pandemia, talvez a primeira grande crise realmente globalizada, e, certamente, a mais grave do capitalismo moderno, mas a ela não se restringem. O mesmo método se recomenda para a análise da crise brasileira, essa que se arrasta há anos, que vem à tona mais claramente a partir de 2013, e que longe está de conhecer seu ápice ou sua curva de acomodação. Ouso dizer que a grande crise nacional, em processo, transforma o capitão em figura secundária. Porque nem ele, nem um eventual substituto, têm a menor condição de evitar os graves desdobramentos sanitários, econômicos e políticos da pandemia.
Independentemente do capitão e do grupo que ainda o sustém, marchamos para o agravamento da crise brasileira, e não é difícil imaginar seu epicentro em torno de junho-julho do corrente ano, quando se encontrarão, no alto, as curvas da pandemia e da recessão (economistas projetam uma queda do PIB brasileiro, ainda em 2019, em algo entre 3% e 6%!) e suas consequências sociais: desemprego e precarização, agravados pela recessão, projetada para mais de um ano.
A crise econômica tem suas raízes nas políticas neoliberais que se instalaram entre nós a partir do ajuste de Joaquim Levy, ainda no natimorto segundo governo Dilma, mas está igualmente atrelada à crise econômica mundial (estima-se para a Alemanha uma retração de 4,2% e de 6,0% para a França; a projeção para a economia internacional é de uma retração de 32%), sem precedentes, provavelmente mais profunda e mais duradoura do que aquela de 1929-1933 (o crash da bolsa de NY) e para cujos efeitos não há vacina imaginável, pois são inimagináveis os desdobramentos da estagnação da atividade econômica em nível global, de que são apenas dois indicadores a explosão do desemprego nos EUA (cuja economia vinha em ascenso) e a queda do crescimento da China, o maior importador de matérias primas do mundo e, ao mesmo tempo, o maior produtor de insumos da indústria global.
A catástrofe social, depois da catástrofe sanitária e da catástrofe econômica, encontrará, no Brasil, um governo, qualquer que seja ele, em descompasso com a nova realidade e envolto em uma das mais profundas de nossas crises políticas, talvez similar à que engendrou 1930, tanto que não será exagero considerar mudanças institucionais.
Sobre esse cenário, que se apresenta como uma probabilidade, mas, principalmente, a partir de suas possíveis consequências, deve voltar-se a competência prospectiva da esquerda brasileira para oportunamente nele saber intervir. Do contrário, será condenada, como até aqui, a simplesmente comentar um jogo do qual não participa, senão como coadjuvante.
Alguns elementos podem ser tidos como presentes, porque tangenciam o óbvio, como, por exemplo, o rompimento da unidade do grupo que atualmente hegemoniza o poder, ensejando uma nova coalizão de forças. Essa, porém, não será necessariamente mais próxima às correntes de esquerda, cujo papel dependerá de muitas variáveis, como sua capacidade de organização e mobilização popular, além de sua capacidade de ampliar socialmente, rompendo, assim, como já ocorreu no passado, com sua condição de corrente política minoritária.
Se está preparada, inclusive para se despir de convicções e dogmas, e pretensões hegemonistas, só os fatos dirão. É inevitável correr o risco.
A história, sejam quais forem os fatos futuros, cobrará da esquerda brasileira um projeto de Brasil, e esse projeto pouco ou nada conservará das especulações até aqui levantadas pelos partidos e organizações populares. Considero vencidas todas as propostas de programas de governo. Por uma razão acaciana: a realidade mudou nos últimos dias e será ainda mais diversa na sucessão histórica, mesmo a curto prazo. Precisamos altear a cabeça, mirar para além do horizonte e rever nossos projetos de ontem e de hoje. O fim da proposta neoliberal, que nem mesmo em Chicago ainda é levada a sério, já foi decretado pela força dos fatos, e a intervenção do Estado, até como salvação da economia privada, é requerida, mesmo pelo sistema financeiro internacional (FMI, OCDE e quejandos), e mesmo pelas forças mais conservadoras da política brasileira. Trata-se, portanto, de questão vencida. Brevemente, mesmo ainda no governo do capitão, não se ouvirá mais a defesa do ajuste fiscal como fim em si mesmo e a qualquer preço. O “posto Ipiranga” faliu.
A crise, em seus desdobramentos, exigirá um Estado social (um Estado para além do keynesiasmo clássico) politicamente forte, em condições de rearticular a sociedade em torno de um projeto de reconstrução nacional, talvez significando uma transição para uma nova fase política que não pode ser antevista a olho nu.
Qualquer que seja o quadro histórico que se descortinará a partir da crise social, é evidente que quedará exposta a falência da atual ordem institucional, e a impossibilidade de sobrevivência de uma sociedade fundada em obscena desigualdade social. A casa-grande terá de negociar com a senzala. Não se conte, porém, com uma transição pacífica, civilizada, pois tais bons modos não fazem parte da tradição da direita.
Leia mais em www.ramaral.org
______________
Roberto Amaral é escritor e ex-ministro de Ciência e Tecnologia