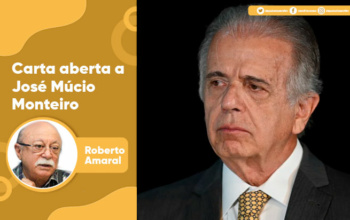O continente americano, que se via, até há pouco, imerso em tempos de pesar político, flagelado por golpes de Estado e regressões econômicas, parece retomar as rédeas de seu próprio destino, quando o povo-massa volta a desempenhar o papel de sujeito histórico e agente de transformações. De uma forma ou de outra, a centro-esquerda se consolida na Argentina; a esquerda acaba de recuperar o governo na Bolívia e conquistar a maioria parlamentar no Equador; avança a olhos vistos no Peru, e a comoção social toma corpo na Colômbia, desestabilizando o governo de Luis Arce, mero títere dos interesses geopolíticos dos EUA na América do Sul, qualquer que seja o inquilino da Casa Branca.
Há 33 anos o povo chileno iniciava a lenta marcha no caminho da recuperação democrática que chega hoje, com as recentes eleições do dia 16, a um de seus momentos mais auspiciosos. Esta é a primeira lição que podemos colher: os avanços históricos cobram maturação. Mas muito mais tempo gastamos de 1985 até hoje e quanto mais o tempo passa parece que andamos para trás, ou que caminhamos em busca de uma linha de horizonte que sempre se afasta de nós.
Nossos dias de hoje marcam brutal retrocesso.
Com o referendo de 1988 o Chile dava um estrondoso Não às pretensões continuístas do ditador luciferino e corrupto que em 1973 comandara o assalto ao Palácio de la Moneda, interrompendo, com a força bruta dos tanques e dos bombardeios, a promissora experiência de socialismo democrático, liderada por Salvador Allende.
O golpe se dera sob a orientação, o financiamento, o planejamento e a estratégia comandada diretamente pelo Departamento de Estado dos EUA, chefiado por Henry Kissinger. No Chile, o Império do Norte atuaria de forma ainda mais desabrida do que entre nós na preparação do golpe de 1964; mas, tanto no Chile quanto no Brasil, cuidou, desde lá atrás, da formação ideológica dos militares, isto é, afastando-os gradativamente dos respectivos interesses nacionais, em proveito dos projetos estratégicos dos EUA, então condicionados pela Guerra Fria. Por isso mesmo sempre se deram bem.
Implantava-se no país vizinho, com a felonia do comandante do exército, a ditadura dos horrores e dos crimes, talvez a mais brutal do continente no século passado. Corrupta e brutal como toda ditadura. Com aquele Não, os chilenos diziam “basta!” ao presidente perjuro e assassino, mas não se livrariam ainda de seu regime. A transição democrática, lembrando uma outra muito nossa conhecida, se fez ainda sob a custódia dos militares, e a carta constitucional do Chile redemocratizado resultou de uma concertação entre o projeto democrático e o regime de força, que assim sobrevivia. Livrara-se o povo do ditador iníquo, mas o poder militar se projetava no regime constitucionalizado. Assim, desde então e até aqui, com nuanças, formalizava-se a troca civilizada entre um governante da democracia cristã e um governante da direita, como o atual Sebastián Piñera, que sucedera Michelle Bachelet, que sucedera Ricardo Lagos, que sucedera Eduardo Frei-Tagle… O povo não lograra a ruptura necessária com o passado sombrio, e este sobrevivia contaminando o presente, limitando os passos da democracia, congelando as transformações sociais tornadas ainda mais urgentes e inadiáveis depois da devastação da economia chilena, da pauperização das grandes massas e da mais brutal concentração de renda jamais conhecida em sua história.
No Brasil também não seria diverso: o primeiro presidente da “Nova República” era José Sarney, ex-líder do partido da ditadura; seu lamentável sucessor era um reles serviçal do neoliberalismo afinal
Nossas experiências guardam, porém, outras similitudes. Aqui, a redemocratização também resultou de uma concertação entre os príncipes da ocasião e os fardados engalanados, uma conciliação de cima para baixo, traficada nos gabinetes, enquanto o povo nas ruas clamava por anistia ampla e irrestrita, pelo direito de escolher seu presidente, por democracia plena, enfim, pela convocação da assembleia nacional constituinte autônoma, apetrechada de poder constituinte originário que não pode ser outorgado por decreto, senão pela manifestação da soberania popular. Porém, como é sabido, a “constituição cidadã” do Dr. Ulisses que o bolsonarismo está desfolhando, rasgando página por página, foi escrita por um Congresso sem poder constituinte originário (composto, até, por “senadores biônicos”), que, sem forças, teve de considerar as limitações que lhe ditava a caserna. Também aqui o poder militar se projetaria no poder civil, e a curatela de um arbitrário “poder moderador” chega aos nossos dias, sustentando o poder iníquo do capitão genocida. Mas há distinções, e essas não nos beneficiam. Não tivemos, ao contrário dos chilenos em 1988, um referendo para demarcar a nova ordem. Nosso povo – como de hábito, aliás – não falou em 1985; cumpriu-se o script dos estrategistas militares, que escolheram o momento da debandada e as condições da aparente volta aos quartéis. Aqui, mais uma vez, uma composição política substituíra a ruptura.
A ruptura, sem a qual nossos países não terão consolidado o regime democrático e muito menos conhecerão a redenção social, os chilenos estão construindo nas ruas, nas pegadas dos movimentos dos jovens de outubro de 2019, transformando uma revolta originalmente motivada contra um aumento abusivo das passagens do metrô numa insurgência política de denúncia do regime, de que resultou o plebiscito que convocou a constituinte eleita no último domingo (16/05). Trata-se de colégio filho da soberania popular, assim apto para, refazendo as instituições, promover a ruptura com o passado. A composição da assembleia, consagrando a esquerda e os candidatos independentes, e pela primeira vez abrindo espaço cativo à representação dos povos originários, não apenas dá aos constituintes condições objetivas para a ruptura; mas, mais do que isso, a exige, a impõe e a cobrará. Dificilmente o país que acaba de falar elegendo uma constituinte progressista, democrática, essencialmente anti-
Num colégio de 155 cadeiras, a direita, governante e bafejada pelo apoio dos grandes meios de comunicação (lá como aqui porta-vozes dos mesmos interesses de classe), foi limitada a 37 constituintes; a mesma reprovação se abateu contra a antiga “Concertación”. Os socialistas elegeram 15 constituintes, e a “democracia cristã” apenas dois, contra 28 comunistas, que, além de outras municipalidades, elegeram a prefeita de Santiago. Ao fim e ao cabo, o que se configura como esquerda no panorama chileno controla 2/3 da futura constituinte. Porém, o futuro plenário, formado majoritariamente de “independentes”, desenha a dura crise dos tradicionais partidos políticos chilenos, acusados de, após a saída dos militares, haverem governado sem mudar, nem na forma e muito menos na essência, o modelo neoliberal da constituição de 1988, fonte de iniquidade e pobreza e herança do regime de que o país pretendia apartar-se.
Eis outra lição a colher da saga chilena.
Este é o desafio que se coloca para as novas forças, para os “independentes” e para as corporações tradicionais, renovadas, pois não há revolução social sem organização política a ela (isto é, a seus fins) adequada. As massas, espicaçadas pelas injustiças sociais e pela fome, frequentemente se insurgem contra seus algozes, e a história brasileira, desde a colônia, está repleta de exemplos; mas quase sempre perdem a batalha final quando não estão assistidas de organização, direção, plataformas concretas, objetivos claros e estratégia de luta.
A pasmaceira de nossa vida política de hoje, a anomia de nossos partidos e a fragilidade de nossas organizações, sejam políticas, sejam sindicais, devem ser vistas como uma contingência que pode e precisa ser corrigida para que a esquerda brasileira possa retomar seu papel de sujeito no processo social. Papel que requer organização, clareza de objetivos e meios, e disposição de trabalhar fora dos gabinetes. É muito bom, anima nossa militância tão carente de estímulo, festejarmos os avanços políticos de nossos vizinhos. Mas precisamos de muito mais do que isso: colher com humildade a lição dos que avançam na organização política e nos dedicarmos à mobilização da sociedade.
Sem a mobilização popular, a oposição não ameaçará o capitão, que continuará à solta e impune, conspirando contra os interesses de nosso país e de nosso povo; sem a voz das ruas não garantiremos as eleições de 2022, e muito menos a vitória de um quadro de esquerda ou centro esquerda.
______________
Roberto Amaral é escritor e ex-ministro de Ciência e Tecnologia