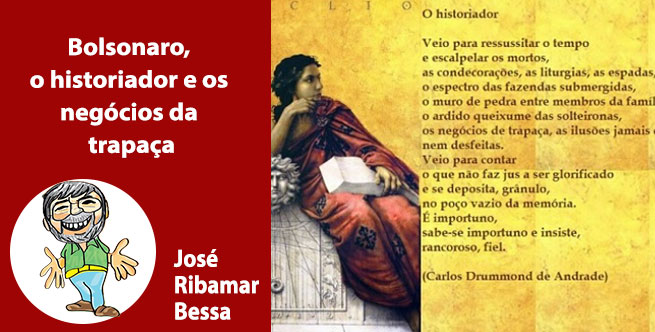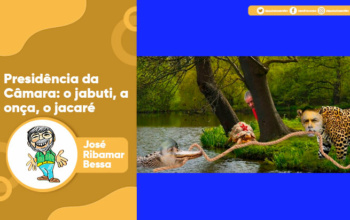“Veio para ressuscitar o tempo e escalpelar […] os negócios da trapaça. Veio para
contar o que não faz jus a ser glorificado”. ( Drummond. “O Historiador”. 1980)
Será que é por pura pinimba que Bolsonaro barra leis aprovadas pelo Congresso Nacional? Da mesma forma que rejeitou a concessão de água potável a indígenas, ele vetou, em abril, na íntegra, o Projeto de Lei do senador Paulo Paim (PT-RS) que regulamenta a profissão de Historiador. Agora, derrotado por deputados e senadores que derrubaram o veto, foi obrigado a promulgar a contragosto, no Diário Oficial da União, nesta terça (18), a lei que havia rejeitado. Caso se recusasse, teria de ceder a caneta ao presidente do Senado, a quem caberia passar o jamegão, como determina a Constituição.
Mas, afinal, o que é que o capitão tem contra os historiadores? Que mal lhe fizeram? A resposta pode ser dada com a ajuda de um poema, de um filme e de uma aula dos Guarani.
Os esqueletos no armário
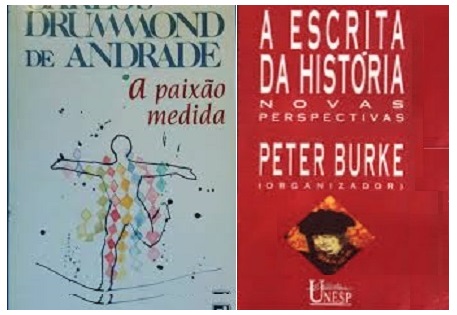 O historiador existe – escreve poeticamente Drummond – para revelar o que estava escondido: “os negócios da trapaça, as ilusões não confirmadas e nem desfeitas”. O historiador “veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos, as condecorações, as liturgias, as espadas”. Se é assim, Bolsonaro pode já ir tirando o cabelinho da venta. Sua aliança com parlamentares corruptos do Centrão é capaz de impedir a votação de mais de 50 pedidos de impeachment. O leilão de cargos no Supremo Tribunal Federal (STF) e o latinorum de advogados e juízes conseguem adiar o julgamento das trapaças da loja de chocolate, da Val do Açaí, das fake news, das rachadinhas. Crimes prescrevem no Judiciário e no Legislativo, mas jamais na História.
O historiador existe – escreve poeticamente Drummond – para revelar o que estava escondido: “os negócios da trapaça, as ilusões não confirmadas e nem desfeitas”. O historiador “veio para ressuscitar o tempo e escalpelar os mortos, as condecorações, as liturgias, as espadas”. Se é assim, Bolsonaro pode já ir tirando o cabelinho da venta. Sua aliança com parlamentares corruptos do Centrão é capaz de impedir a votação de mais de 50 pedidos de impeachment. O leilão de cargos no Supremo Tribunal Federal (STF) e o latinorum de advogados e juízes conseguem adiar o julgamento das trapaças da loja de chocolate, da Val do Açaí, das fake news, das rachadinhas. Crimes prescrevem no Judiciário e no Legislativo, mas jamais na História.
Os historiadores que em tempos antigos foram vistos por Heródoto como guardiães da memória de feitos gloriosos, hoje são “os guardiães de fatos incômodos” – escreve Peter Burke, para quem a função mais imprescindível do historiador é retirar os “esqueletos do armário da memória social para recordar às pessoas aquilo que elas gostariam de esquecer”. Drummond confirma com seus versos que o historiador “veio para contar o que não faz jus a ser glorificado (…) É importuno, sabe-se importuno e insiste, rancoroso, fiel”. Com o perdão da palavra, é um empentelhador.
Esse é um dos poucos contextos em que “rancoroso” aparece com uma conotação positiva, conferida pelo adjetivo “fiel” que lhe segue. Bolsonaro, que reinventou a tristeza cloroquinada e não teve a fineza de desinventá-la, vai pagar dobrado, com juros, o sofrimento de familiares de quase 120 mil mortos pelo Covid-19, sem que se tenha uma política de saúde, sequer um ministro para formulá-la e executá-la. A História vai cobrar dele cada mentira, cada ilusão jamais confirmada nem desfeita, cada farsa. Será inútil, como na Alemanha nazista, tentar escondê-las.
A grande mentira
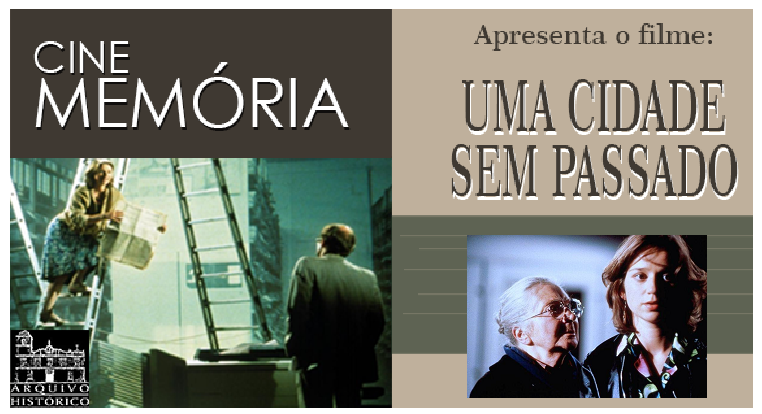 O filme “The Nasty Girl” (1989) – em português “Uma Cidade Sem Passado” – tem por cenário uma cidade denominada de Pfilzing, que se gabava de ser um bastião na luta contra o nazismo, com monumentos e estátuas exaltando os heróis da resistência. Seu diretor, o cineasta alemão Michael Verhoven, conta a história de uma estudante secundarista – Sonja Rosenberger – filha de um refugiado político e de uma professora de religião, que vence um concurso de melhor redação escolar sobre a Liberdade na Europa e ganha uma viagem a Paris.
O filme “The Nasty Girl” (1989) – em português “Uma Cidade Sem Passado” – tem por cenário uma cidade denominada de Pfilzing, que se gabava de ser um bastião na luta contra o nazismo, com monumentos e estátuas exaltando os heróis da resistência. Seu diretor, o cineasta alemão Michael Verhoven, conta a história de uma estudante secundarista – Sonja Rosenberger – filha de um refugiado político e de uma professora de religião, que vence um concurso de melhor redação escolar sobre a Liberdade na Europa e ganha uma viagem a Paris.
Depois de entrar na universidade e ainda estimulada pelo prêmio, Sonja decide participar de outro concurso, escolhendo como tema Minha cidade natal durante o III Reich. No entanto, encontra dificuldades para pesquisar a documentação nos arquivos do Bispado e da Prefeitura, no arquivo privado da família do prefeito e no próprio jornal da cidade – o Pfilzinger Morgen. Todos eles fecham suas portas. Ninguém quer que uma “judia e comunista” futuque o passado. Sonja, porém, não desiste. Corre atrás. Busca os documentos orais. Entrevista familiares e vizinhos que sobreviveram ao nazismo.
Por não ter acesso aos documentos escritos, ela perde os prazos do concurso. Desconfiada, continua pesquisando por conta própria, mesmo depois de formada, casada e com filhos, numa batalha que durou alguns anos. Recorre ao Judiciário e entra com uma ação na qual reivindica o direito à informação. Ganha o processo e, finalmente, ingressa nos arquivos. Descobre, horrorizada, as razões da cortina de silêncio: sua cidade, longe de ter resistido ao nazismo, foi um campo de concentração. Lá, nazistas prenderam, torturaram e mataram muita gente, com a cumplicidade ou a omissão de moradores, que tentaram, depois, forjar um passado que nunca existiu.
Os documentos registraram inclusive a prisão de um judeu, denunciado na época por dois padres, que no momento da pesquisa continuavam ainda vivos, vivíssimos, tentando impedir o acesso de Sonja aos registros. No entanto, o mais doloroso era que aqueles que ontem haviam sido carrascos, cúmplices da opressão, posavam, hoje, como heróis da resistência e parceiros da liberdade. Quanto escárnio! Os pilantras haviam invertido os papéis como fazem sempre. Por isso, ocultavam os documentos.
Aula Guarani
 No Brasil, a História já está mostrando que aqueles que se apresentam como “caçadores de marajás”, jurando que “não roubam nem deixam roubar”, nem sempre são aquilo que arrotam. Documentos mostram que os que se gabam, no discurso, de serem os campeões da luta anticorrupção, estavam, na prática, envolvidos até o pescoço em casos tangíveis como as “rachadinhas”, assaltando o erário, ano após ano, antes mesmo de terem a chave do cofre grande. Não adianta esconder os fatos: a História, com sua visão crítica, vai atrás, de olho na mídia, confrontando as fontes.
No Brasil, a História já está mostrando que aqueles que se apresentam como “caçadores de marajás”, jurando que “não roubam nem deixam roubar”, nem sempre são aquilo que arrotam. Documentos mostram que os que se gabam, no discurso, de serem os campeões da luta anticorrupção, estavam, na prática, envolvidos até o pescoço em casos tangíveis como as “rachadinhas”, assaltando o erário, ano após ano, antes mesmo de terem a chave do cofre grande. Não adianta esconder os fatos: a História, com sua visão crítica, vai atrás, de olho na mídia, confrontando as fontes.
O historiador remexe o passado e de lá retira os esqueletos dos armários, ajudando a construir outro Brasil para nossos filhos e netos, onde as pessoas assumam sua cidadania e não se deixem enganar ou tanger como gado. Mas para isso, é preciso usar a baladeira, como queria o saudoso Aloísio Magalhães, ex-diretor do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Numa aula de história no Curso de Formação de Professores Guarani Kua Mbo’Boe, em Santa Catarina, usei a frase de Aloísio Magalhães para quem “aquele que vive e pensa cultura tem que operar a ação do bodoque, do estilingue: recuar no passado, trazendo memória e identidade cultural para pressionar e remeter com força espetacular o objeto em direção ao futuro”.
Posto que a História é a ciência do homem no tempo, os professores Guarani reescreveram com o arco e a flecha a metáfora do bodoque. No “hoje”, nós só podemos disparar a flecha e impulsioná-la para o “amanhã”, se formos capazes de recuar o arco para o “ontem”. É isso que nos dá força para impulsioná-la ao futuro. O passado não está ANTES do presente, mas DENTRO dele. Cabe ao historiador descobri-lo. No oriki citado por Pierre Verger, “Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje”. A trapaça vai morrer. Não, o veto não é pinimba, é medo do arco retesado do historiador.