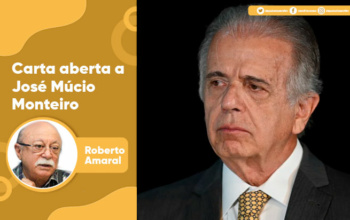Ao despedir-se da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o general Richard Nunes apresentou como saldo da segunda intervenção federal o aparelhamento ou reaparelhamento técnico e operacional (armas e viaturas e similares) das polícias civil e militar do Estado: “Fizemos a intervenção com o propósito muito mais de reestruturar os órgãos do que de tratarmos do dia a dia da criminalidade” (O Estado de SP, 14/12/2018). Louvável fruto essa reestruturação, mas que, evidentemente, poderia ser alcançado, talvez com menos custos, mediante a simples transferência direta de recursos pela União. Ademais, pouparia as forças armadas de verem posto em xeque seu papel constitucional e arranhado o necessário respeito que por elas deve nutrir a sociedade.
Embora apreciável, o balanço da intervenção também ficou anos-luz distante das expectativas criadas, a um só tempo, pelo baticum da propaganda governamental (enfim, o temerismo havia descoberto a panaceia para os males da violência urbana) e a justa esperança de paz de uma população cansada de insegurança. Esta, por sinal, o único ente realmente democrático de nossa vida social, pois a todos atinge, embora atinja principalmente as populações mais carentes, desprotegidas, desservidas de assistência do Estado, sempre ausente nas periferias das grandes cidades, onde o submundo do crime faz suas presas preferenciais.
Submundo muito bem aparelhado e de cuja eficiente estrutura fazem parte, ostensivamente, agentes do Estado, pagos e armados para oferecer segurança à cidadania. São policiais civis e militares e mesmo suboficiais e praças das forças armadas conquistados pelo tráfico, pelas milícias ou pela associação de ambos com o baixo clero da política fluminense, que tem representações notórias porque públicas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Estado.
Assim, e por isso mesmo, roubam, pilham, assaltam, assassinam, e alimentam com armas o tráfico e a bandidagem em geral.
A chegada das forças federais no ano passado, aliás, foi saudada pelas milícias com o assassinato, ousado, brutal e covarde, da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. No centro da cidade, na via pública, às escâncaras. Ou seja, com aquela tranquilidade e frieza que só a profissionalização e a garantia de impunidade podem oferecer.
No campo estratégico, a intervenção, viu-se, priorizou a reorganização da força policial e, do ponto de vista das ações tático-militares, limitou-se ao combate, mediante as clássicas ‘batidas’ em morros, ao pequeno comércio ilegal de drogas, aos estouros de pontos de venda e ‘bocas de fumo’, sem, todavia, e por óbvio, desmontá-lo (o que não se poderia cobrar), ou sequer atingir o centro do tráfico, sua medula, que, sabemos e ressabemos todos, não tem sede nas favelas cariocas.
Talvez por razões operacionais, a força interventora deixou para um outro momento, que ainda não chegou (quando chegará?), a guerra às milícias, organização autônoma, herança da repressão do regime militar, alimentada por facínoras desempregados pela redemocratização e desconstituição dos centros de repressão formais, além de agentes do Estado na ativa.
Mas alimentada fundamentalmente pela impunidade, ainda vigente.
Por tais e mil outras razões, não coube à força interventora esclarecer o assassinato da vereadora e de seu motorista. O primeiro centímetro, nada além disso, de um novelo cuja extensão ainda não se conhece – porque muito ainda precisa ser desvelado –, foi a prisão de dois dos prováveis executores, na verdade figuras menores, pois o que se quer, além deles, é a identificação dos mandantes do crime hediondo, bem como o esclarecimento de suas motivações.
Esse ponto de partida, importantíssimo – embora, repito, insuficiente – foi, por ironia, obra da desacreditada Polícia Civil do Rio de Janeiro, operando com o Ministério Público Estadual e sob os olhares da polícia federal que investigava uma investigação que não andava. Sabidamente, ações políticas – que, espera-se, sejam logo postas a nu — emperravam os trabalhos policiais, sempre sensíveis a ingerências de toda natureza.
Concomitantemente ao anúncio dessas primeiras indicações, o delegado responsável pelo inquérito foi afastado do caso e remetido, pelo governador do Estado, para uma vilegiatura na Itália, aparentemente compulsória.
Ressalta das apurações até aqui reveladas que os dois supostos matadores são homens de posses, apesar de tratar-se um de sargento aposentado e outro de ex-sargento retirado da PM. Sabe-se mais, que ambos moram em mansões – o crime, vê-se, compensa – e um deles em condomínio onde tem residência o atual presidente da República, ele próprio velho defensor das milícias fluminenses e de seu (delas) papel nas comunidades pobres do Rio de Janeiro.
Não se pode afirmar que a família Bolsonaro (denominada de “a nova família imperial” por Fernando Henrique Cardoso) tenha conexão direta com as milícias, mas são notórias, porque proclamadas, as relações de amizade do vereador, do deputado, do senador e do presidente com milicianos, agraciados, inclusive, com declarações de louvor e concessões de títulos honoríficos e honrarias concedidos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Estado.
Há, portanto, um outro fio para ser puxado nesse novelo de fatos inexplicados.
Na busca de informações sobre os pistoleiros presos, a polícia civil do Rio de Janeiro, sempre ela, vai bater na residência de um amigo de um dos suspeitos e, por acaso, mero acaso, descobre uma linha de montagem de réplicas do fuzil AR-115 (USA), de extrema capacidade de fogo e letalidade. O “armeiro” trabalhava e trabalha para a milícia, ou as milícias, em provável acordo com os sargentos da PM matadores de aluguel bem remunerado.
A descoberta se deu ao acaso (e este ponto é importante), ou seja, não resultou de uma linha de investigação. Dito de outra forma, não há, aparentemente, linha de investigação permanente sobre a entrada de armas em nosso país, de particular no Rio de Janeiro, e disso, lamentavelmente, não cuidou a fracassada intervenção.
Se a descoberta da mina resultou de uma casualidade, não é crível que se trate, essa importação e montagem de armas, de episódio isolado, como não se sabe quantas armas assim são importadas e quais grupos de marginais alimentam. Sabe-se que o Estado nada sabe, porque a entrada dessas armas se dá sem que que dela tomem conhecimento os serviços de inteligência das forças armadas, das tropas de fronteira, da policia federal e das polícias estaduais, porque ninguém pensará que o contrabando de armas pesadas seja uma exclusividade da tragédia fluminense.
Daí que uma pergunta permaneça no ar, gritando por resposta: como essas armas entram em nosso país e no Estado do Rio de Janeiro? Não se sabe, como igualmente não se sabe onde estavam os serviços de inteligência, o fisco, o Coaf, a polícia federal, e a polícia civil e a policia militar do Rio de Janeiro, que não viram ou não quiseram ver os indícios de enriquecimento escancaradamente ilícito de dois suboficiais menores da policia militar do Rio de Janeiro, morando em condomínios de luxo, um na Barra da Tijuca ao lado da residência do presidente da República (frequentada pelos mais conspícuos serviços de inteligência do país), dirigindo carrões, alugando palacetes em Angra dos Reis e passeando de lanchas avaliadas em pouco menos de um milhão de reais?
De descoberta em descoberta, de acaso em acaso aumenta a insegurança da cidadania, que tudo pode e deve temer em face de seu desamparo.
E, afinal, quem mandou matar Marielle?
Roberto Amaral
Roberto Amaral é escritor e ex-ministro de Ciência e Tecnologia