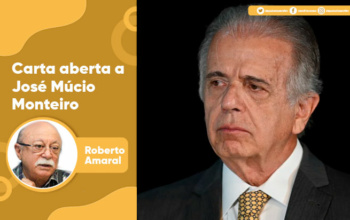“Vou consultar a Câmara; a tropa não é a nação. A tropa é parte da nação”.
A frase de D. Pedro I que nos serve de epígrafe foi registrada por José Honório Rodrigues (História combatente, Nova Fronteira. p. 176) como a resposta do nosso primeiro imperador ao general Avilez, comandante das tropas portuguesas, na independência, “quando este lhe fez exigências descabidas”. A citação enseja ao historiador a pergunta que permanece solta no ar e que ainda se fazem os brasileiros:
“E como pode esta parte tomar conta da nação, tutelar seu povo, que detém a soberania nacional e impor-lhe o que quer? O mal que esta ação representou historicamente precisa urgentemente ser reparado, voltando o exército às suas funções constitucionais normais”
O autor de Reforma e conciliação no Brasil escreve em março de 1979, quando o generalíssimo Ernesto Geisel transmitia as rédeas da ditadura ao general João Baptista Figueiredo, o último (e certamente o mais desastrado de todos) presidente do longo mandarinato militar. Passados 41 anos, a primeira inclinação do analista de hoje é supor que estamos diante de uma história congelada, pois a realidade se oferece como fotografia do passado: a parte segue tomando conta da nação. Aqui se dá fenômeno curioso: as forças armadas não apenas se concebem anteriores à nação, mas se julgam mesmo autoras e criadoras da nação, e assim, com todos os direitos e poderes para ditar os direitos, os poderes e os valores da nação. E puni-la nos casos de desobediência. Elas se julgam acima da his tória, pois pretendem geri-la; alçam-se acima da república, porque a proclamaram, acima da ordem constitucional que não se pejam em fraturar; pousam mesmo acima da soberania popular, pois seu poder derivaria de si mesmas. Do inquestionável argumento da espada. Os militares não são, assim, uma classe de servidores da nação; querem ser mais que um dos poderes da república, o primo inter pares, o único livre de qualquer controle. Atribuem-se um poder moderador como justificativa da intervenção política, e para isso não se consideram célula do Estado. Como se os militares, como corporação, estivessem fora das relações políticas e dos interesses econômicos por elas representados, senão em seu núcleo.
Esse poder moderador é a justificativa para a intervenção política e ruptura da ordem constitucional sempre que o dissenso ameaça os interesses da classe dominante, e é posto em ação principalmente quando o conflito opõe grupos sociais, ameaçando a ordem burguesa. Em ambas as hipóteses seu papel é o de proteção do bloco hegemônico. Assim, por exemplo, o golpe de 1964, e a ditadura que se segue, instrumentos erguidos contra a possibilidade de avanços sociais.
Em nome da defesa da ordem, sempre a serviço da fração dominante, as forças armadas se atribuem o dever de impedir a emergência do novo.
A ditadura da parte sobre o conjunto vem de longa data, acompanha mesmo a história republicana, com momentos de maior ou menor incidência. Não se trata, aqui, de discutir os inexistentes compromissos da farda com a democracia – está nos livros de História a sequência de insurreições, golpes de Estado e ditaduras -, porque o cerne da questão radica nessa auto-concepção dos militares como pais da pátria, para eles incapaz de alcançar a maioridade e por isso mesmo necessitada de ser mantida sob as rédeas curtas da tutela.
Os militares de hoje são a guarda pretoriana de um governo que conspira diuturnamente contra o país e seu povo, destruindo a economia como um todo e a empresa nacional de forma particular, destruindo a indústria em favor do monopólio financeiro, asfixiando a universidade, desconstituindo as bases da educação, da ciência e da tecnologia, devastando o meio ambiente. Transformando um país que já desempenhou o papel de sujeito na política internacional em moleque de recados dos interesses da agonizante administração Donald Trump, aprofundando o caráter de país politicamente reflexo e economicamente dependente, regressando à primeira metade do século passado como país agroexportador.
Os militares, que no passado estiveram associados ao projeto nacional desenvolvimentista levado a cabo pela revolução de 30, que se associaram à defesa do monopólio estatal do petróleo e da construção da Petrobras, são hoje o sustentáculo de um governo que desmonta a infraestrutura nacional estratégica, anula o papel do BNDES como agente de desenvolvimento, entrega às multinacionais os recursos do pré-sal e renuncia ao dever de ter uma política espacial, doando aos EUA a Base de Alcântara – sonho de brasileiros há mais de meio século.
Antes, ao tempo da ditadura escancarada, os militares, os homens de farda estiveram atrelados à dinâmica da guerra fria, pondo-se a serviço dos EUA contra nossos interesses; para fazer face à falsa ameaça da União Soviética, elegeram como teatro de ação a guerra interna, combatendo como adversário de vida e de morte o honrado e bravo brasileiro que desafiava a ditadura e defendia a democracia. A ação se foi, mas o discurso se mantém. Foi-se a “ameaça” da URSS, ficou ficou a doutrina da Escola Superior de Guerra, ainda presa à guerra fria. O mesmo anticomunismo, mais farsesco do que nunca, ainda mais anacrônico. Naqueles anos os militares, o exército à frente, se puseram a serviço de estado burocrático-autoritário, instrumento de modernização capitalista, comandada a partir do centro do mundo capitalista. Desta feita, sustentam um programa neoliberal que revoga todo projeto de desenvolvimento, desde aquele que entre 1930 e 1980 assegurou ao Brasil altos índices de crescimento e transformou o país em exportador de manufaturados. O estranho é que os militares de hoje repudiem essa política de cunho nacionalista e desenvolvimentista, da qual foram corresponsáveis, como coautores da revolução de 30 e da ditadura do Estado novo, que vai modernizar o Estado e criar as condições infraestruturais para a industrialização, hoje em declínio.
As forças armadas, que chegaram a representar a modernidade, fazem-se sujeito da estagnação, e, por via de consequência, do atraso. Como ser social se desapartam da sociedade, constroem uma história própria movida por visões próprias e interesses próprios. Formado à parte, vivendo em bolhas, preso a relações endogâmicas, o militar brasileiro constrói sua própria tábua de valores e, a partir dela, passa a ver o mundo dos “lá de fora”. A pretensa origem dos militares brasileiros na classe média, que deveria orientar seus compromissos ideológicos, é uma miragem, pois acima de sua origem de classe, as forças armadas, como observa Eliezer R. de Oliveira, “definem o campo da ação política dos seus interesses dentro do Estado independentemente de terem vindo da classe m édia ou de serem filhos de gente rica ou de gente pobre” (Inteligência brasileira. Editora Brasiliense, p 288), e isto é mais do que esprit de corps, pois leva o militar brasileiro, seguidamente, a intervir contra seus supostos interesses de classe, pois simplesmente os ignora. É mais fácil um oficial brasileiro identificar-se com um colega do corpo de marines dos EUA do que com o pequeno proprietário ou agricultor de sua terra de origem. Sobre qualquer leitura da realidade, o militar é um produto da formação política que recebe nos quartéis e na academia, onde são condicionados a pura e simplesmente serem anticomunistas, e comunismo é tudo o que represente ameaça à ordem, como o progresso social ou a emergência política das massas. Nos quadros da formação de hoje, são inimagináveis movimentos militare s como o “tenentismo” (ou a Coluna Prestes), mesmo uma ação política como aquela exercida pelo Clube Militar nos movimentos de defesa nacional e particularmente na defesa da industrialização, ou da Petrobras. Figuras como Horta Barbosa e Estilac Leal não podem mais ser produzidas. Muito menos intelectuais como Nelson Werneck Sodré.
Se podemos registrar, nos anos 50 do século passado, a emergência politicamente ativa de um pensamento nacional-desenvolvimentista, de compromissos legalistas (que muitos identificaram como adesão a teses democráticas), é igualmente fora de dúvida que, a partir de então, com o fim da segunda guerra mundial, com o trabalho que passa a ser desenvolvido pela Escola Superior de Guerra, e com a Doutrina da Segurança Nacional, são criados instrumentos que visavam a impedir a contaminação com qualquer pensamento social, qualquer leiva de pensamento esquerdista. A democracia se exercia no combate ao espantalho comunista, e quanto mais “democrata” mais anticomunista deveria ser o oficial. O legalismo passou a depender desta contingência.
As mudanças ideológicas que se operam na formação da oficialidade brasileira aguardam uma discussão profunda que reclama a participação da universidade, dos partidos e do congresso.
A caserna se considera a fôrma na qual a nação toma forma; essa distorção nos perseguirá ainda por muito tempo, porque ainda estamos longe de uma correlação de forças que habilite a nação dizer às suas forças armadas o papel que lhes compete na ordem democrática. Até lá, qualquer avanço social será uma quimera.