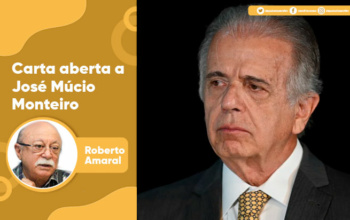A política de guerra passou a ser evitar a grande guerra, trazendo para nossos dias uma lição escrita há cerca de 2.500 anos
“Ele (Kim Jong-un) fala e seu povo presta atenção. Quero que meu povo faça o mesmo.”
– Donald John Trump, empresário, 45º Presidente dos EUA
Talvez não seja apropriado usar a palavra lei para referir a uma regra dominante (quase desde sempre) na ‘arte da guerra’, isto é, nas estratégias de guerra e defesa, de guerra e paz, que os conflitos entre grupos e entre nações e blocos econômicos vêm escrevendo, e que nos chegam através da pena de seus cronistas.
 Mas digamos que existe, sim, uma ‘lei’, de vigência contemporânea, e que seu enunciado, reescrevendo o si vis pacem, para bellum da tradição romana, pode ser o seguinte: se não podes derrotar teu inimigo, convence-o de que sua vitória sairá caríssima.
Mas digamos que existe, sim, uma ‘lei’, de vigência contemporânea, e que seu enunciado, reescrevendo o si vis pacem, para bellum da tradição romana, pode ser o seguinte: se não podes derrotar teu inimigo, convence-o de que sua vitória sairá caríssima.
É o que se chama, modernamente, de ‘política de dissuasão’: o pretenso agressor relutará ao ataque, conhecendo suas perdas, pois todos evitam a ‘vitória de Pirro’, aquela na qual os ganhos não compensam as perdas. A política de guerra passou a ser evitar a grande guerra, trazendo para nossos dias uma lição escrita há cerca de 2.500 anos: “O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar” (Sun Tzu, A arte da guerra).
Ficaram, a serviço das ordens em disputa, os conflitos localizados, as guerras terceirizadas, provocadas, insufladas, instrumentalizadas, armadas e financiadas, sem o envolvimento ostensivo das potências nucleares, unificadas, porém, como senhoras da guerra e da paz, enfeixando em suas mãos o controle sobre o futuro do planeta.
Essa política, os conflitos periféricos e a permanente ameaça da hecatombe, que ao tempo da Guerra Fria se conheceu como ‘dentente’, é o que nos trouxe até aqui; como resultado da polaridade nuclear, EUA e URSS (levando aos extremos da insanidade seus arsenais) se convenceram de que nenhum dos dois seria vencedor no confronto mútuo e que o conflito final seria a mortalha de todos.
As tensões, porém, não se reduziam aos países líderes dos dois polos em confronto; a Guerra Fria, que compreendia a corrida nuclear entre os grandes, se desdobrava no armamentismo sem peias, conquanto convencional.
Quanto mais armados, mais tinham e têm os países a garantia de sua segurança, porque quanto mais armados mais têm condições de convencer o inimigo de sua capacidade de resposta, e, assim, assegurar-se da paz.
A política dos EUA, principalmente no Oriente Médio, porém, quebrou esse pacto, ao transferir tecnologia nuclear para seu associado Israel, rompendo com o statu quo. A invasão e destruição do Iraque (e da Síria e da Líbia), invadidos e destruídos que foram porque não tinham armas atômicas, ensinou que o único caminho para a defesa segura é a posse ou a capacidade de produzir artefatos atômicos e mísseis. Ou seja, a possibilidade de um ataque atômico responder com outro contra o território de seu adversário.
O Irã ainda não foi invadido, como desejam Israel e os EUA, porque seu programa nuclear, ainda não desmontado, levou as grandes potências (com o dissídio de Trump) a firmar com ele um acordo de garantias de não agressão e progressiva suspensão de sanções comerciais.
Potências nucleares, Índia e Paquistão evitam o confronto direto, e dispõem de bons argumentos para dissuadir qualquer intento hostil, um do outro, ou de quem quer que seja.
E é o arsenal atômico da URSS, preservado pela Rússia, que faz o Ocidente renunciar a qualquer reação militar quando Moscou reincorpora a Crimeia e intervém, ainda que indiretamente, no conflito da Ucrânia.
Em cima desses fatos, conhecidos, diante de sua obviedade lógica, é que se estruturou a estratégia de Kim Jong-un, fazendo a ela curvar-se o grande império. O esforço, bem realizado, visando à montagem de seu aparato bélico – ogivas nucleares e mísseis em condições de levá-las ao território dos EUA – estruturou uma vitoriosa política de dissuasão diante de seu inimigo, até aqui luciferino e mortal, mas a partir de agora de mãos e atos limitados.
Mostrando aos EUA que, mesmo imolando-se, poderia impingir-lhe aquelas perdas lamentadas por Pirro nas batalhas de Heracleia e Áscul, a Coreia do Norte fez Donald Trump – o todo-poderoso — ir ao encontro do ‘homenzinho’ e negociar a paz, que tanto detesta, certamente pressionado por Seul e Tóquio, desnuclearizados, aos quais, obviamente, não pode interessar a vizinhança de uma potência nuclear inimiga.
Em síntese: investindo em seu programa nuclear, dominando a construção de ogivas e controlando mísseis intercontinentais, a pobre Coreia encontrou-se em condições de negociar a partir de uma posição de força, circunstância que lhe ensejou, inclusive, definir o momento da cúpula.
Após abandonar o acordo nuclear firmado com o Irã, e de praticamente haver implodido o G-7 e agredido velhos e fidelíssimos aliados (como o Canadá), Trump se desloca à Ásia para o encontro com Kim Jong-un que, sem nada ceder, até aqui, que se saiba, conseguiu a suspensão das operações militares conjuntas dos EUA e Coréia do Sul (reconhecidas pelo presidente norte-americano como ‘provocações’), e a abertura de negociações visando à progressiva eliminação das sanções impostas ao regime de Pionguiangue, indispensável para o programa de modernização econômica com que o líder coreano acena para seu país.
Os EUA, agora, vêem seus compromissos (militares) asiáticos como ‘fardo dispendioso’ e Donald Trump já fala em levar suas tropas de volta para casa, promessa de campanha que Jimmy Carter não pôde cumprir, porque mais forte que sua vontade era a força do Pentágono e do poderosíssimo lobby da guerra.
A imprensa ocidental, corriqueiramente correia de transmissão dos interesses de Tel Aviv, mostra-se incomodada. The Economist, por exemplo, acusa Donald Trump de enfraquecer o Tratado de Não Proliferação (TNP) e a ‘Pax americana’ (ao tempo em que estaria oferecendo garantias de segurança à Coreia do Norte), “com o risco de corridas armamentistas regionais e até mesmo a guerra”.
Ora, esse sempre foi e é o grande projeto do complexo militar-industrial dos EUA, associado à indústria bélica mundial, ao contrabando e fornecimento ilegal de armas, e às corporações de mercenários (também chamadas de ‘exércitos terceirizados’) que se espalham em todas as áreas postas em conflito.
Aliás, o TNP não passa, ainda hoje, de uma trampa, pois jamais teve como objetivo a desnuclearização. Ao impô-la ao mundo, uma operação casada da antiga URSS com os EUA, congelando a distribuição de poder, as duas potências visavam ao monopólio nuclear, mediante o qual poderiam, em condomínio, decidir os destinos da Terra, pois a desnuclearização, atingindo a todos os demais, não as atingia.
A Economist, porém, não está de todo desesperada, pois aposta na irresponsabilidade do presidente imperial: como ele rompeu com a Parceria Transpacífico, com o G-7 e com ‘o bom acordo nuclear iraniano’ também poderá, diz ela, abandonar o (‘mau’) acordo com a Coreia.
É pagar para ver, e da novela só foi encenado o primeiro capítulo.
Sejam quais forem os desdobramentos dessa ópera, porém, a Coréia do Norte e seu líder já se podem considerar vitoriosos e, nas suas pegadas, a Humanidade, que privilegia o entendimento como solução dos conflitos, já tem o que comemorar. Graças ao ‘homenzinho’, goste-se ou não dele.
Roberto Amaral
Roberto Amaral é escritor e ex-ministro de Ciência e Tecnologia